(Débora Prado/Agência Patrícia Galvão, 13/06/2016) Três considerações sobre o que o massacre em Orlando (EUA) diz sobre nós mesmos e o nosso tempo
1) O que sabemos do atirador?
Muito pouco, mas o que sabemos é perversamente familiar.
As informações que chegam pela imprensa internacional sobre Omar Mateen descrevem um homem jovem, de 29 anos, que trabalhava como segurança armado e aparecia em muitas fotos usando emblemas policiais. O pai afirmou que seu filho ficou “muito bravo” após ver dois homens se beijando no centro de Miami recentemente. Sua ex-esposa, Sitora Yusufiy, contou ao jornal norte-americano Washington Post que sofreu violência doméstica: “ele me batia. Ele chegava e começava a me bater porque as roupas não estavam lavadas ou coisa do tipo”, afirmou.
A relação do atirador com o fundamentalismo religioso não está clara até este ponto. Segundo Sitora Yusufiy, no tempo em que foram casados, Omar não era muito religioso, sendo mais entusiasta da academia do que da reza.
A ação foi reivindicada pelo Estado Islâmico, por um lado; por outro, a origem afegã de seus pais pode facilmente conduzir a um caminho de preconceitos até a conclusão que a “culpa” é do mal terrorista. Ou, de um modo mais individualizante, o caso pode ser abordado, mais uma vez, como um ato isolado de ‘monstruosidade’ ou de ‘perturbação mental’ do atirador. Seriam saídas fáceis que reforçam sistemas de estereótipos ao invés de debater as transformações necessárias para prevenir de um modo efetivo os crimes de ódio.
Infelizmente, Omar não é a exceção. Diante das poucas informações disponíveis, encontramos nesse jovem elementos comuns a uma masculinidade que nos é perversamente familiar e hegemônica. Que está presente nos alertas de enfrentamento à violência contra as mulheres que buscam debater gênero e construção dos papéis tidos como ‘masculinos’, onde a violência e agressividade são lidas como características de pertencimento a uma heterossexualidade compulsória.
Muitas das entrevistas que realizamos para o Dossiê Violência contra as Mulheres (veja abaixo alguns exemplos) são perfeitamente pertinentes para debater homofobia – ou seja, precisamos discutir sexo, gênero e desejo com urgência para construir masculinidades menos violentas.
2) O que sabemos do machismo e da LGBTfobia?
Que a invisibilidade mata, mas que, sem apoio social e institucional, a visibilidade também é um caminho perigoso.
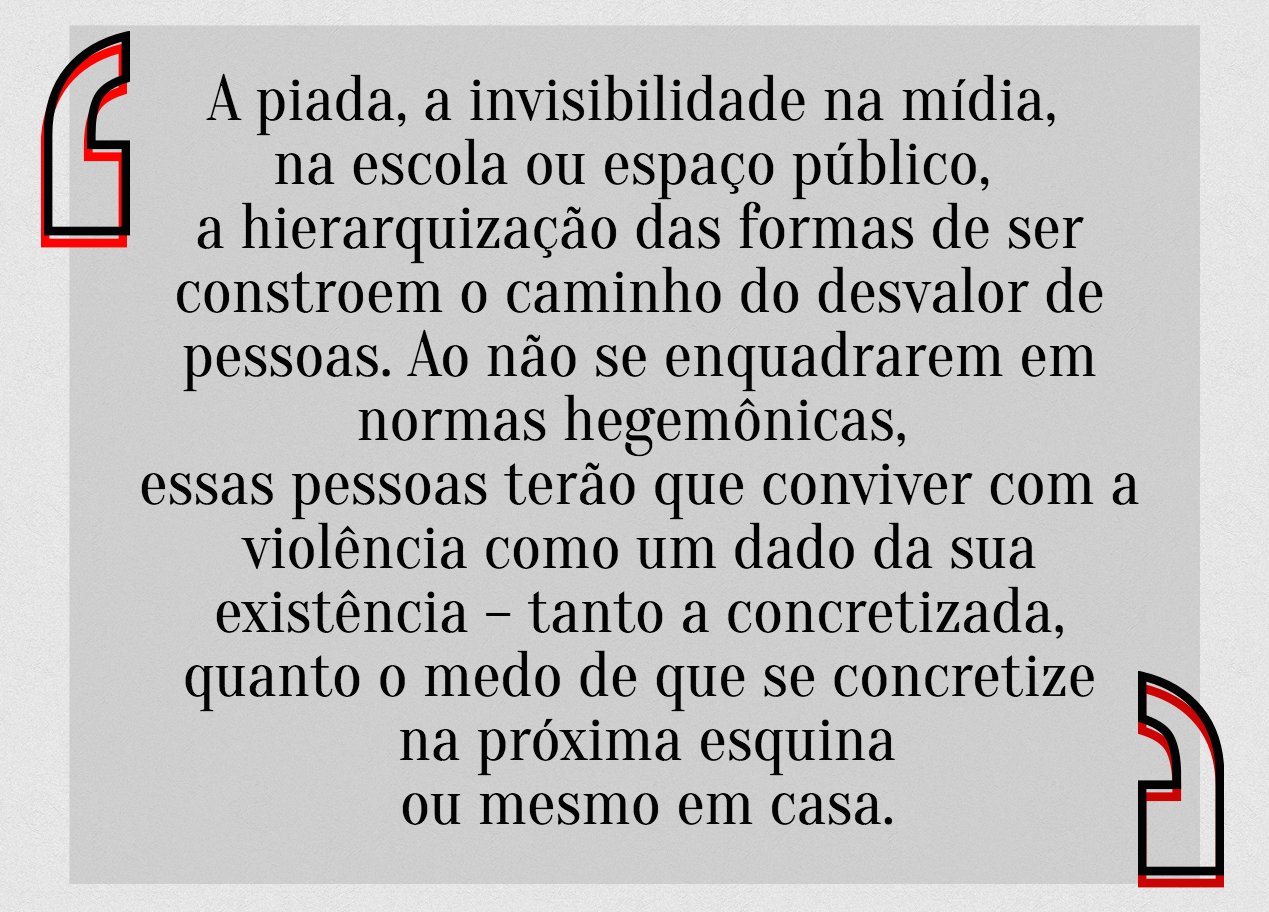 Preconceito e discriminação contra a população LGBT andam de mãos dadas, manifestam-se nos espaços familiar, profissional e social de maneira muitas vezes velada. Especialistas recomendam visibilizar essas diversas violências a fim de provocar debate e mudanças de atitudes necessárias e urgentes.
Preconceito e discriminação contra a população LGBT andam de mãos dadas, manifestam-se nos espaços familiar, profissional e social de maneira muitas vezes velada. Especialistas recomendam visibilizar essas diversas violências a fim de provocar debate e mudanças de atitudes necessárias e urgentes.
É essencial, porém, que o ato corajoso de visibilizar o que querem apagar seja respaldado pelo Estado e pela sociedade. Isso quer dizer que quem concorda que o massacre em Orlando é um exemplo de ódio e do pior da humanidade e, ao mesmo tempo, se diz contra discutir gênero e diversidade nas escolas ou na mídia precisa rever urgentemente seus conceitos e refletir sobre a ligação da violência fatal com preconceitos naturalizados a tal ponto que são reproduzidos todos os dias como se nada tivessem a ver com violências graves, a exemplo de alguns debates bem atuais no Brasil:
– Considerar que existe um ‘exagero’ por parte de quem denuncia preconceitos e discriminações e que é muito chata essa ‘ditadura do politicamente correto’, colocando o conforto das falsas certezas e hábitos acima de questões de vida e morte dos ‘outros’.
– Pensar que uma piada é inofensiva. Ou afirmar que tudo bem as pessoas serem gays, lésbicas ou bis, mas elas não precisam andar de mãos dadas ou demonstrar qualquer tipo de afetividade não heterossexual por aí.
– Considerar o direito ao nome social de pessoas trans uma questão menor.
– Que violência doméstica é só uma ‘briga de marido e mulher’ ou que se as mulheres soubessem se comportar haveria menos violência.
– Que não vê um grande problema em políticos eleitos – portanto pretensamente representantes desta sociedade e deste tempo – vociferarem as piores homofobias e machismos, como fazem Bolsonaros, Felicianos, Levys, Joãos Campos e tantos outros.
– Que não sabe distinguir o direito inalienável à religiosidade que cada pessoa tem da crítica aos ataques ao Estado laico, ao fundamentalismo religioso e àqueles que deturpam fés para discriminar, vigiar e punir (e também lucrar).
– Que defende veemente um modelo único de família e aceita a proposta de leis discriminatórias como o Estatuto da Família.
– Que acha que tudo isso não tem nada a ver com os assassinatos em Orlando e que a solução está em mais rigor na ‘guerra ao terror’, e não na formação para a não discriminação.
A piada, a invisibilidade na mídia, na escola ou espaço público, a hierarquização das formas de ser constroem o caminho do desvalor de pessoas que, por não se enquadrarem em normas hegemônicas, terão que conviver com a violência como um dado da sua existência – tanto a concretizada, quanto o medo de que ela se concretize na próxima esquina ou mesmo em casa.
Essa construção coletiva do desvalor irá determinar também quais vidas importam. Em outras palavras, quais vidas podem ser tiradas repetidamente, como tragédias anunciadas, sem que nada aconteça – como o genocídio da juventude negra e pobre, os feminicídios e os crimes lesbo, bi, trans e homofóbicos que ocorrem no Brasil –, sem que a sociedade se mobilize para cobrar a responsabilidade do Estado, que por ação ou omissão, é cúmplice dos assassinos em todas essas mortes.
3) O que podemos fazer diante do que sabemos?
Ir do luto à luta.
Estupros coletivos, assassinatos e execuções, crimes de ódio homofóbicos ACONTECEM TODOS OS DIAS. Aconteceu com Luana em Ribeirão Preto, aconteceu no Rio de Janeiro, no Piauí, aconteceu em Orlando (EUA). Essas vidas não podem ser tiradas sem que nada aconteça.
Precisamos cobrar dos Estados políticas públicas efetivas de enfrentamento a discriminações e violências, com investimento sério em serviços de acolhimento às vítimas, responsabilização de agressores e educação para prevenção. Precisamos cobrar de organismos internacionais uma atuação enfática junto às nações para que isso aconteça.
Precisamos cobrar de nós mesmos a autocrítica, a capacidade de rever e desconstruir estereótipos e preconceitos naturalizados e enraizados que nos fazem ser autores ou espectadores silenciosos dos preconceitos cotidianamente. Precisamos formar crianças e adultos que vivenciem diferenças como diversidade e não desigualdades, que conheçam e defendam os direitos humanos. Precisamos quebrar o pacto de silêncio e conivência com preconceitos, discriminações e violências nos espaços públicos e privados.
Precisamos de um basta coletivo para dar visibilidade aos preconceitos mais enraizados, desconstruí-los e, assim, avançar em práticas mais plurais e respeitosas – sob o custo de sermos cúmplices de massacres ou, cedo ou tarde, sermos o ‘outro’, o ‘errado’, o ‘intolerável’ para alguém como Omar, para exércitos e polícias, para Estados fundamentalistas.
Seis declarações importantes sobre a violência contra as mulheres e a LGBTfobia:“Quando se trata de violência contra as mulheres, temos que inserir nessa equação os homens, para discutir os sentidos do que seja a masculinidade e de como a violência é importante para a constituição da masculinidade na sociedade brasileira.” “Sabemos que existem masculinidades e feminilidades hegemônicas, que aparecem como se fossem produto da natureza, mas não são. No Brasil, por exemplo, entre jovens, o acesso à masculinidade plena se dá através da iniciação sexual com uma mulher, para que ele seja reconhecido como um homem heterossexual e, portanto, participe dessa masculinidade hegemônica. Aqueles que agem de forma diferente, não têm o comportamento esperado pelos outros, é feminilizado e diminuído.” “O machismo, o racismo, a lesbofobia, a bifobia e outras formas discriminatórias interagem diretamente entre si, produzindo e reproduzindo relações de poder que ditam qual é o papel da mulher [e também dos homens] na sociedade. Quando uma mulher desafia o papel que lhe é imposto, como é o caso das lésbicas e bis, ao transgredirem a norma heterossexual, acaba sofrendo uma violência ‘diluída’ que vem de diversas frentes. O que eu chamo de violência diluída são essas divisões. O racista, por exemplo, não se conforma em não ver naquela lésbica a ideia da mulata hipersexualizada que a sociedade vendeu a ele. O machista e lesbofóbico não se conforma em não ver na lésbica a mulher que será submissa a ele sexual e socialmente.” “As violações contra as mulheres trans, de forma geral, repetem o padrão dos crimes de ódio, motivados por preconceito contra alguma característica da pessoa agredida que a identifique como parte de um grupo discriminado, socialmente desprotegido, e caracterizados pela forma hedionda como são executados, com várias facadas, alvejamento sem aviso, apedrejamento, reiterando, desse modo, a violência genérica e a abjeção com que são tratadas as pessoas trans no Brasil. Historicamente, a população trans é estigmatizada, marginalizada e perseguida, devido à crença na sua anormalidade, decorrente do estereótipo de que o “natural” é que o gênero atribuído ao nascimento seja aquele com o qual a pessoa se identifica e, portanto, espera-se que ela se comporte de acordo com o que se julga ser o “adequado” para esse ou aquele gênero.” “A violação dos direitos dos cidadãos LGBT é determinada principalmente pelo preconceito e pelo desconhecimento do contexto social, econômico, cultural e social em que estão inseridos e desenvolvem suas atividades cotidianas e acontece nas mais diversas esferas do cotidiano profissional e social. O preconceito pode facilmente transformar-se em discriminação, que assume muitas formas de hostilidade. A violência moral e psicológica contra aqueles que não fazem parte dos grupos socialmente valorizados e, portanto, legitimados, é a porta de entrada para outras manifestações dessa hostilidade. Pode se manifestar em violência física, ética e psicológica; na proibição de permanência e de manifestações de afeto; em proibições à admissão ou ao acesso profissional; em demissões e várias outras situações do cotidiano. Convém ressaltar que essas manifestações são, na maioria das vezes, implícitas e veladas, o que pode dificultar denúncias, mas não devem inibi-las ou impedi-las. Quanto menos falamos sobre algo, menos refletimos sobre tal tema.” “As pessoas não entendem que identidade de gênero e orientação sexual são coisas diferentes e que não necessariamente caminham juntas. Dentro de casa elas estão expostas ao controle da sexualidade. Então, uma mulher lésbica sofre cárcere em casa para que não possa se relacionar, a violência sexual de irmãos, pais ou outros homens para que ela ‘aprenda’ a gostar de um pênis, que é o estupro corretivo. |
Débora Prado é jornalista da Agência Patrícia Galvão e coordenadora de projetos especiais do Instituto Patrícia Galvão.




