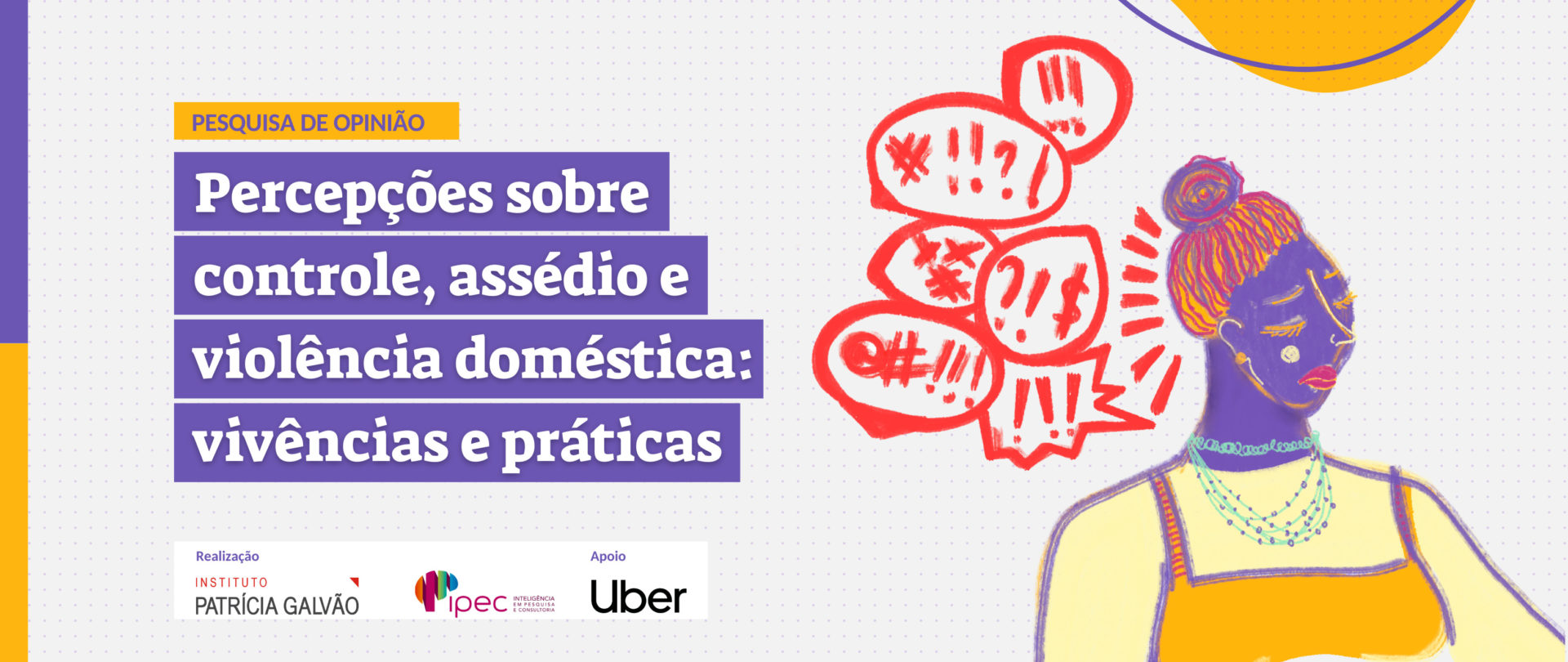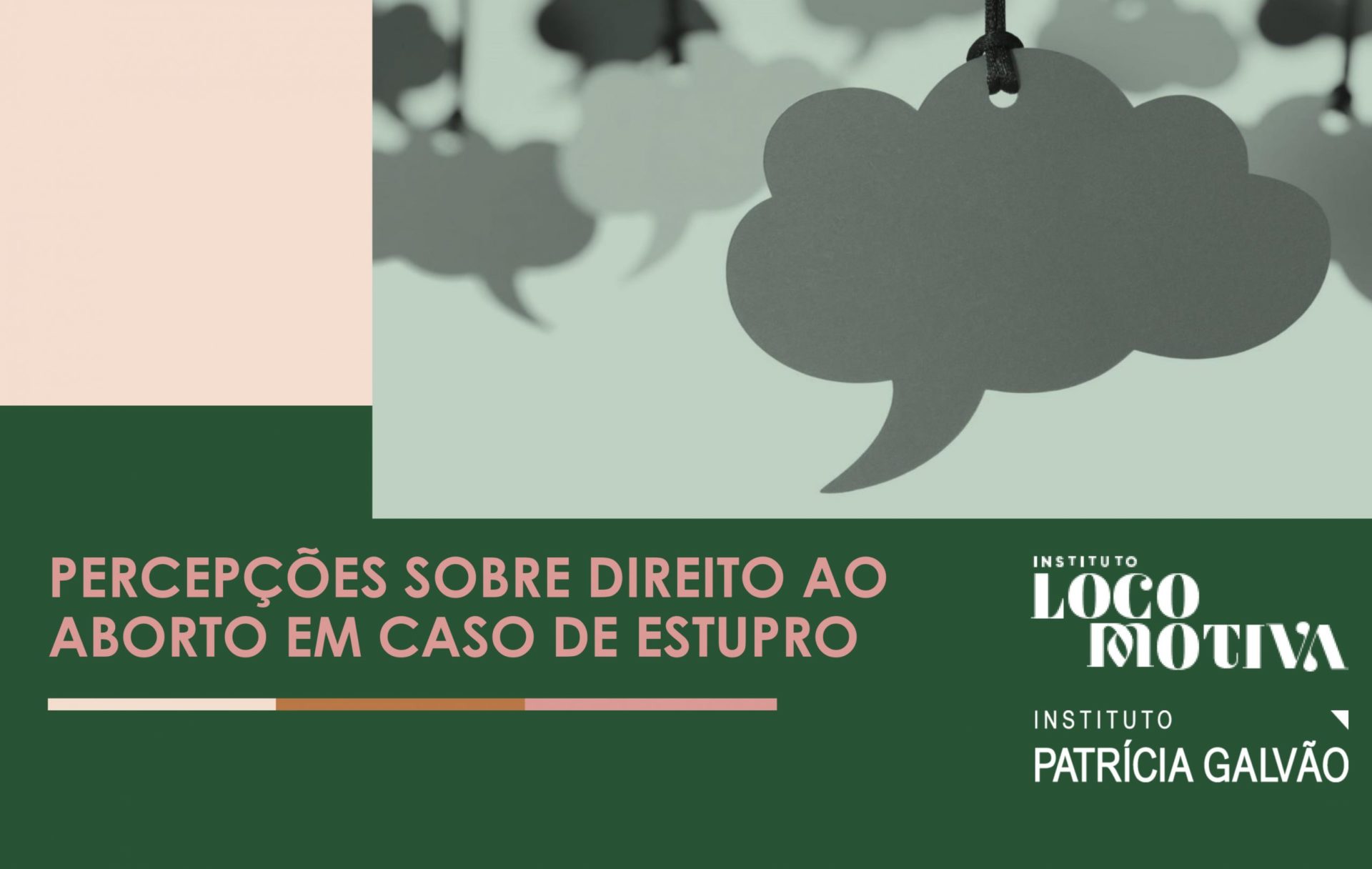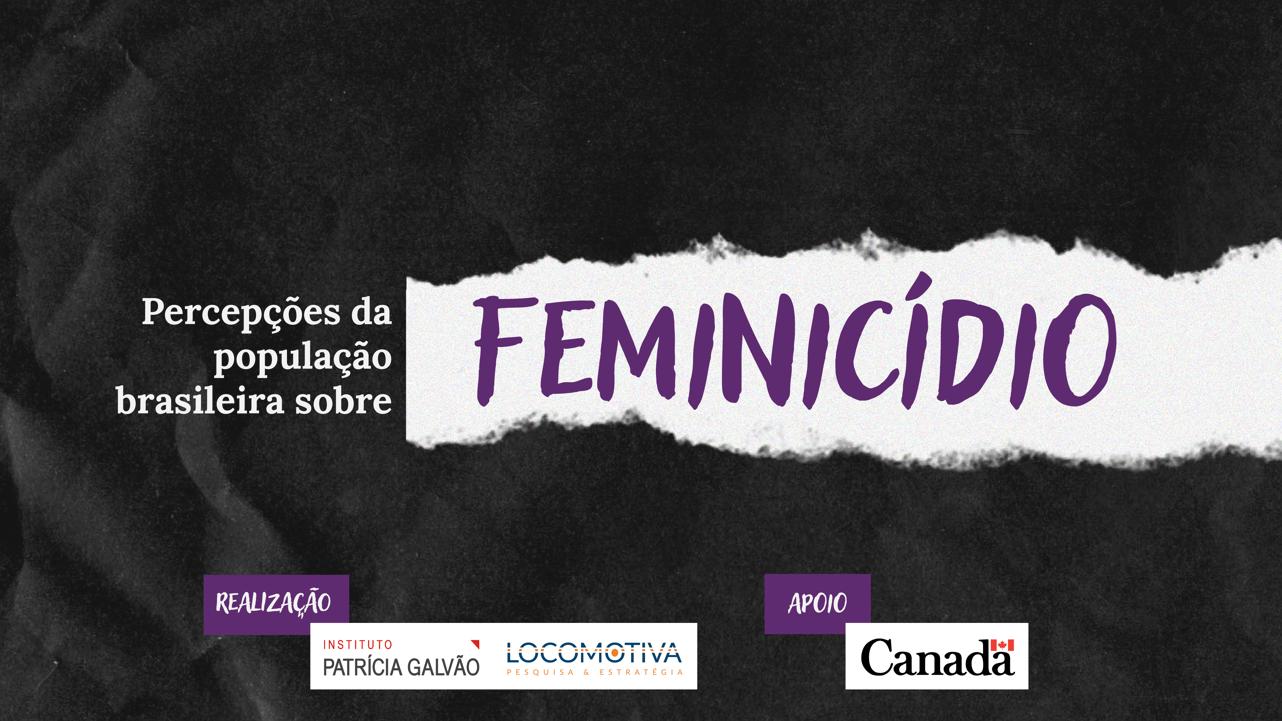Violência sexual, gravidez precoce e falta de informação e acesso a direitos marcam as vidas de meninas indígenas no Brasil
As meninas indígenas são as mais afetadas, proporcionalmente, nas estatísticas de maternidade infantil, resultado de violências sexuais que atravessam seus corpos há séculos. Dos cem municípios com as maiores taxas de fecundidade (nascimentos) entre meninas de 10 a 14 anos nos últimos dez anos, pelo menos 90 estão concentrados em regiões com forte presença indígena.
Entre 2014 e 2023, nasceram 8.820 crianças filhas de meninas indígenas nessa faixa etária no Brasil, de acordo com o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Este número é, provavelmente, ainda maior, considerando a subnotificação, equívocos ou ausência de inclusão de raça/etnia no momento do registro de nascimento.
Os municípios de Campinápolis (MT), Nova Nazaré (MT), Assis Brasil (AC), Itacajá (TO), General Carneiro (MT), Jacareacanga (PA), Tocantínia (TO), Alto Alegre (RR) e Uiramutã (RR) são as mais altas taxas de fecundidade de meninas com até 14 anos, sendo Uiramutã a cidade mais indígena do país, conforme o último censo do IBGE, realizado em 2022.
Esse é um debate complexo que as mulheres indígenas estão aprofundando coletivamente há pelo menos seis anos, desde a 1ª Marcha das Mulheres Indígenas, explica a antropóloga Joziléia Kaingang, que é cofundadora da Articulação das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga). Elas percebem a necessidade de discutir as inúmeras violências presentes nas realidades das mulheres indígenas, independentemente do contexto em que estão inseridas, se em seus territórios tradicionais ou nas cidades.
“A violência está presente dentro das comunidades indígenas, o racismo, o machismo, a sexualização e a subalternização dos corpos das mulheres chegam com força até mesmo para os próprios líderes indígenas”, declarou Joziléia.
A antropóloga também aponta que há uma questão cultural que envolve a concepção de maioridade dentro de muitas culturas indígenas, que é marcada pela primeira menstruação. Mas Joziléia ressalta que, apesar de não estarem abandonando aspectos culturais, as mulheres indígenas estão tendo outra visão sobre si.
A violência não é cultural
“Não estamos rompendo com um traço cultural, mas sim oportunizando que as mulheres indígenas vivam suas vidas com dignidade sexual”, acrescenta Joziléia. E destaca que “quando compreendemos que não queremos isso (a maternidade precoce) para nossas filhas, conseguimos fazer com que a comunidade entenda a necessidade dessa mudança.”
Avelin Buniacá Kambiwá, indígena socióloga do povo Kambiwá, em Pernambuco, reforça que o debate sobre a violência de gênero ainda é muito novo dentro do movimento indígena. Por muito tempo o tema foi tratado como tabu, pois pautar a questão do estupro e a violência sofrida por essas mulheres dentro e fora das aldeias poderia dividir a unidade coletiva dos povos.
Assim como Joziléia, Avelin também ressalta que existem questões antropológicas muito profundas, como os ritos de passagem que geralmente ocorrem com a primeira menstruação – e aí essa menina é vista como adulta perante sua comunidade, podendo, assim, se tornar mãe.
O Código Penal brasileiro, no entanto, considera que até completar 14 anos a pessoa é vulnerável e, portanto, quem tem relação sexual com ela está cometendo um estupro, levando assim ao direito do aborto legal, caso essa violência resulte em gravidez. A legislação do Brasil, porém, não faz distinção entre meninas indígenas ou não indígenas.
“Então, a gente precisa entrar nesse consenso, do Código Penal brasileiro ou do relativismo antropológico”, analisa a socióloga indígena. Mas Avelin destaca que o nível de violência, de invasão, de vulnerabilidade são tão grandes, que não há mais tempo para fazer questionamentos antropológicos e sim defender todas as meninas.
A socióloga do povo Kambiwá alerta que, seja no contexto aldeado ou urbano, as meninas indígenas continuam engravidando muito cedo. Ela conta que sua própria mãe foi dada em casamento aos 14 anos para seu pai, que à época tinha 33 anos. “Isso a 50 anos atrás, e hoje ainda é assim, as meninas casando jovens, mas agora com a possibilidade de se separar, não tem mais essa questão da permanência, como existia na época da minha mãe”, conta Avelin.
Um sistema que falha em proteger
Bekóy Tupinambá, liderança e comunicadora do povo Tupinambá de Olivença, na Bahia, reforça que a violência não é um traço cultural dos povos indígenas e sim reflexo de um sistema que falha em proteger. Ela também é ativista pelos direitos das crianças e adolescentes no enfrentamento à violência sexual, da qual foi vítima dos seus 3 aos 27 anos.
Nos territórios indígenas, muitas vezes a realidade dessas meninas é interpretada com distorção, segundo Bekóy, que enfatiza que a cultura indígena tem um respeito profundo pela vida e pela infância, e não há espaço para a ideia de que a violação possa ser culturalmente aceita. “Pelo contrário, é justamente o racismo estrutural que tenta colocar sobre nós esse estigma.”
O número de mulheres indígenas vítimas de violência sexual mais que triplicou, entre 2014 e 2023, de acordo com levantamento divulgado pela Gênero e Número, com dados do Ministério da Saúde. Entre as mulheres de todas as raças teve um aumento de 188%; já entre as mulheres indígenas, o número de registros de assédio, estupro, pornografia infantil e exploração sexual salta para 297%. E mais de 50% das vítimas de violência sexual, com foco em mulheres indígenas, são menores de 14 anos.
Em todos os cenários analisados, os números de violência contra a mulher indígena (física, psicológica e sexual) sempre estão acima da média nacional da população geral, o que reforça um alerta de quão vulneráveis essas vítimas estão.
Na avaliação de Bekóy, essa realidade de violações e insegurança atravessa contextos indígenas assim como os demais espaços sociais, a diferença é que o acesso à denúncia, justiça e acolhimento não ocorrem da mesma forma. Há falta de informação, medo e julgamentos em comunidades indígenas. “Na maioria das vezes, o aborto legal sequer é apresentado como opção.”
A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) muitas vezes não está preparada para atender esses casos com a sensibilidade e o acolhimento necessários, apontam mulheres indígenas ouvidas nesta reportagem. E ainda há muitas interferências religiosas ou morais que silenciam o debate.