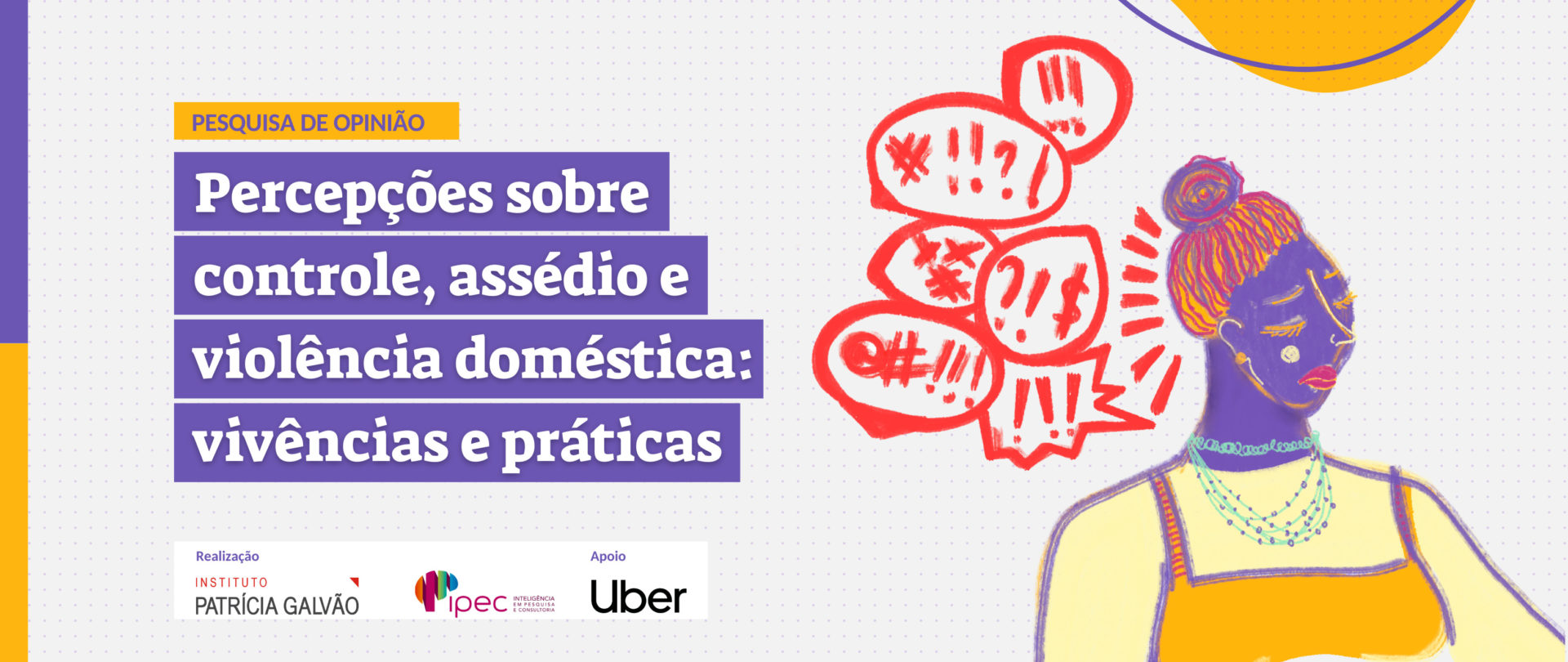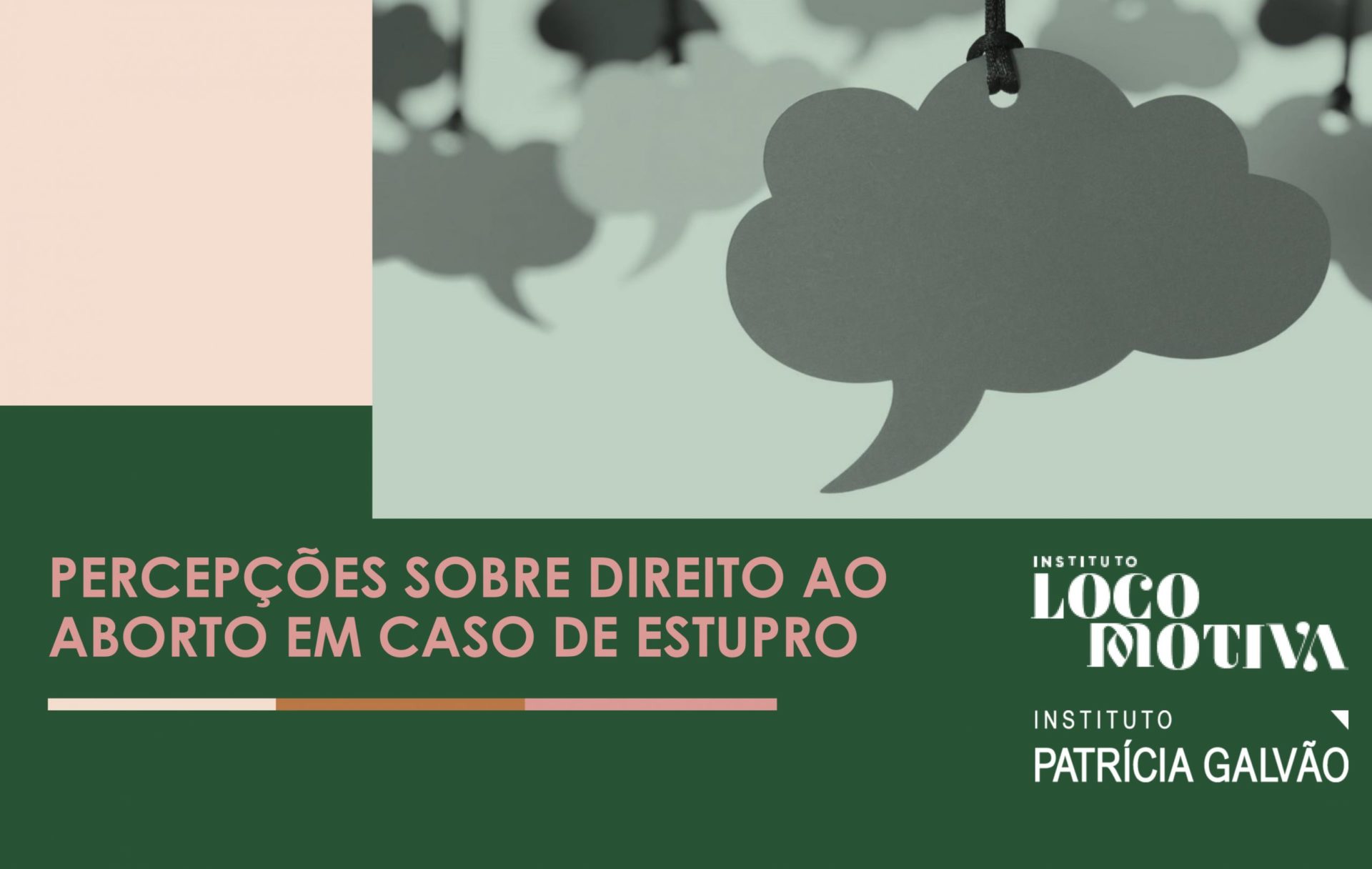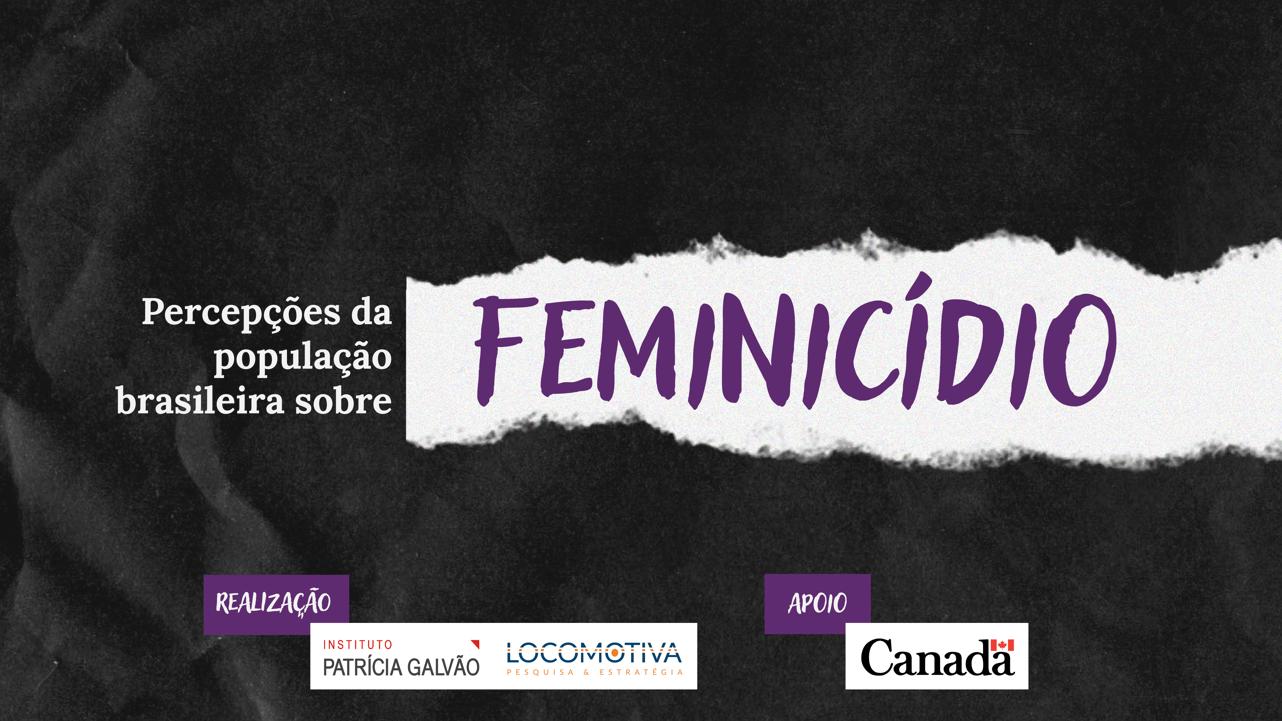Mulheres negras denunciam cesáreas forçadas, descaso e mortes evitáveis. A dor delas não é exagero, é política — e vai marchar até Brasília.
“Eu sei que foi uma violência, mas naquela época não tinha para onde ir, ninguém me ouvia”, declara Ângela Santos, de 50 anos, quilombola da comunidade Pau de Leite, localizada entre os municípios de São José do Belmonte e Mirandiba, em Pernambuco. Essa frase reflete o que muitas mulheres negras sofreram (e ainda sofrem) dentro de um quarto de hospital ao parir.
Há 23 anos, a educadora popular foi submetida a uma cesárea sem justificativa clara, que resultou em um parto traumático. “Fui para a cesárea porque ele [o médico] quis, e meu filho nasceu com problemas respiratórios, porque ninguém se preocupou com a preparação do pulmão dele”, conta.
O caso de Ângela ilustra uma prática que Andreza Santana, advogada com foco em violência obstétrica, racismo obstétrico e direito das famílias, percebe ser recorrente. “Muitas vezes, a equipe já chega impondo procedimentos: ‘você vai fazer X’, sem explicar nada. A mulher é submetida a procedimentos que nem entende, porque acha que isso vai salvar a vida dela e a do bebê.”
Segundo a profissional, o consentimento livre e esclarecido deve ser garantido à mulher, que precisa conhecer todas as opções e entender os riscos e benefícios de cada procedimento antes de decidir. Além de ser forçada a realizar uma cesárea, sem entender o porquê, Ângela teve outras complicações graves. “Me fecharam e deixaram o tecido [compressa cirúrgica] dentro. Eu fui para o quarto sentindo muitas dores, até achei que era um outro bebê que eu tinha. Fui para o banheiro fazer xixi com muitas dores e contrações, e nasceu o pano”, lembra Ângela.
A violência muitas vezes começa no pré-natal
Day Soeiro, de 35 anos, mãe de três filhos e também negra, sofreu violência obstétrica em Oiapoque, no Amapá. O primeiro sinal foi quando, durante o pré-natal, a médica disse que, com 21 anos, ela já estava velha para ter filhos. “No parto, me maltrataram e me apertaram muito. Eu não estava conseguindo, e eles forçaram o tempo todo.” Ela lembra de ouvir: ‘na hora de fazer, não estava reclamando’ ou ‘não precisa desse choro, porque no próximo ano vai tá aqui de novo’.”
Day ainda comenta sobre a falta de autonomia para optar pela laqueadura que desejava realizar na época. “Tinha a questão do marido precisar assinar. Ele estava em outra cidade e não queria fazer.”
Hoje, no Brasil, não é mais necessário o consentimento do cônjuge para que a mulher realize a laqueadura. A Lei nº 14.443/2022 eliminou essa exigência, permitindo que a mulher — maior de 21 anos ou que tenha pelo menos 2 filhos vivos — decida sobre o procedimento.
Mas, mesmo antes da mudança na lei em 2022, negar o direito de fazer a laqueadura já podia ser considerado uma forma de violência obstétrica, segundo Andreza Santana. Isso porque essa violação de direitos também acontece quando o sistema de saúde desrespeita a autonomia das mulheres sobre o próprio corpo e impede que elas tomem decisões sobre sua vida reprodutiva.
“Meu filho foi, mas não voltou do jeito que eu queria”
Janaínis de Almeida, de 26 anos, assistente social, também de Oiapoque, viveu outro tipo de violência médica. Dessa vez, com o filho pequeno. Ela conta que ele nasceu bem, mas quando ficou doente, com dores na barriga, eles não foram bem atendidos no hospital. “O médico parecia não estar nem aí. Tive que ficar perguntando o tempo todo o que iam fazer”. Ela conta que demoraram para encaminhá-lo para Macapá, capital amapaense. “Quando chegamos lá, já era tarde.”
O filho de Janaínis morreu com 1 ano e 5 meses de vida. Segundo a assistente social, ele sentia dores na barriga e não conseguia mais fazer cocô. A barriga, então, começou a ficar dura e os rins pararam. “Ele foi, mas não voltou do jeito que eu queria que ele voltasse”, relata a mãe, cinco anos após o falecimento do menino.
Infelizmente, os números mostram que a morte do filho de Janaínis se insere em um cenário mais amplo de descuido e desigualdade racial no atendimento à saúde. No Amapá, a taxa de mortalidade infantil foi de 20,9 por mil nascidos vivos em 2023, uma das mais altas do país e acima da média da Amazônia Legal e do restante do país. O índice cresceu 5,1% na última década no estado.
Violência ou racismo obstétrico?
O termo racismo obstétrico foi cunhado pela antropóloga norte-americana Dána-Ain Davis, em 2018, para descrever como o racismo se manifesta de forma específica na assistência à gestação e ao parto de mulheres negras. A ideia de que mulheres negras “suportam mais” tem raízes no passado escravocrata, normaliza a dor e legitima decisões sem escuta, o oposto do que orienta a política de humanização do parto.
Segundo a advogada Andreza Santana, a principal diferença que ela nota no escritório é que os relatos de violência de mulheres brancas são mais pautados em intervenções desnecessárias. É quando, por exemplo, elas não precisam de anestesia ou de cesarianas, mas são submetidas aos procedimentos como se fossem incapazes ou frágeis demais, o que também configura uma violência. “É a perda de autonomia do corpo da pessoa”, diz.
Do outro lado, as mulheres negras são deixadas à própria sorte: “estão gritando de dor, solicitando anestesia, mas não recebem, porque [os profissionais de saúde] supõem que elas consigam dar conta, sozinhas”, conclui a advogada.
Danny Silva, enfermeira obstetra e doula, também percebe esse padrão entre suas pacientes. “Mulheres negras muitas vezes recebem menos atenção, são menos escutadas”, afirma. Essas são algumas das muitas razões pelas quais mulheres negras são mais descuidadas no sistema de saúde.
Emanuelle Góes, doutora em Saúde Pública e pesquisadora em pós-doutorado na Fiocruz Bahia, com estudos sobre desigualdades raciais na saúde e na maternidade, explica a origem da ideia de que as mulheres negras suportam mais dor. “É uma validação histórica, uma construção racista que definiu quem eram os grupos humanos menos humanos. E essa lógica ainda se manifesta hoje, quando a dor das mulheres negras é normalizada ou ignorada.”
Ela lembra que essa concepção foi reforçada por James Marion Sims, médico norte-americano considerado o “pai da ginecologia moderna”, que realizou experimentos em mulheres escravizadas de origem africana sem anestesia. “Ele justificava que essas mulheres suportavam mais dor, e isso está registrado nas anotações dele. É daí que vem essa ideia de resistência, de fortaleza, que atravessa até hoje as práticas no serviço de saúde”, completa Emanuelle.
Dados mostram maior mortalidade entre mães negras
A Pesquisa Nascer no Brasil II: Inquérito Nacional sobre Aborto, Parto e Nascimento reforça a gravidade desse problema. O estudo realizado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Fiocruz, mostra que a taxa de mortalidade materna (RMM) é mais que o dobro entre mulheres negras, em comparação com mulheres brancas.
Os dados também indicam que o óbito é mais frequente entre mulheres negras com mais de 35 anos e socialmente vulneráveis, principalmente em hospitais públicos das regiões Norte, Nordeste e Sudeste.
Em 2023, o coletivo Mulheres Negras Decidem e o MP Mulheres lançaram o Pequeno Manual de Racismo Obstétrico, para ajudar a identificar quando o racismo se manifesta no atendimento à gestante, desde o pré-natal até o pós-parto. O material aponta, por exemplo, casos como não medir a pressão arterial durante a consulta, desencorajar a presença de acompanhantes, negar anestesia ou desqualificar as queixas de dor. Esses comportamentos, muitas vezes naturalizados no cotidiano hospitalar, podem ser considerados racismo obstétrico.
No mesmo ano, o Ministério da Saúde lançou a portaria nº 2.198/2023, que criou a Estratégia Antirracista para a Saúde. O objetivo é fazer com que o racismo deixe de afetar o acesso, a qualidade e os resultados dos serviços de saúde, mas ainda não garante que essas medidas sejam cumpridas.