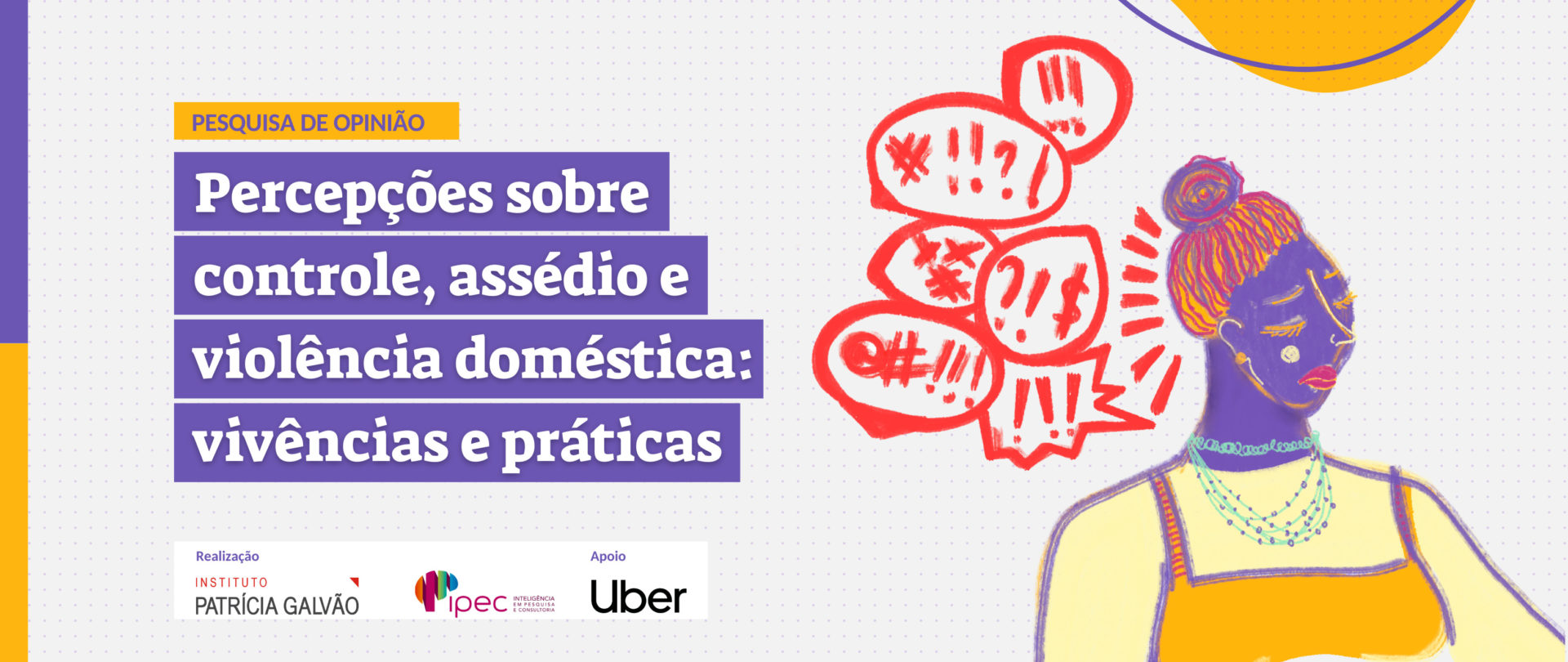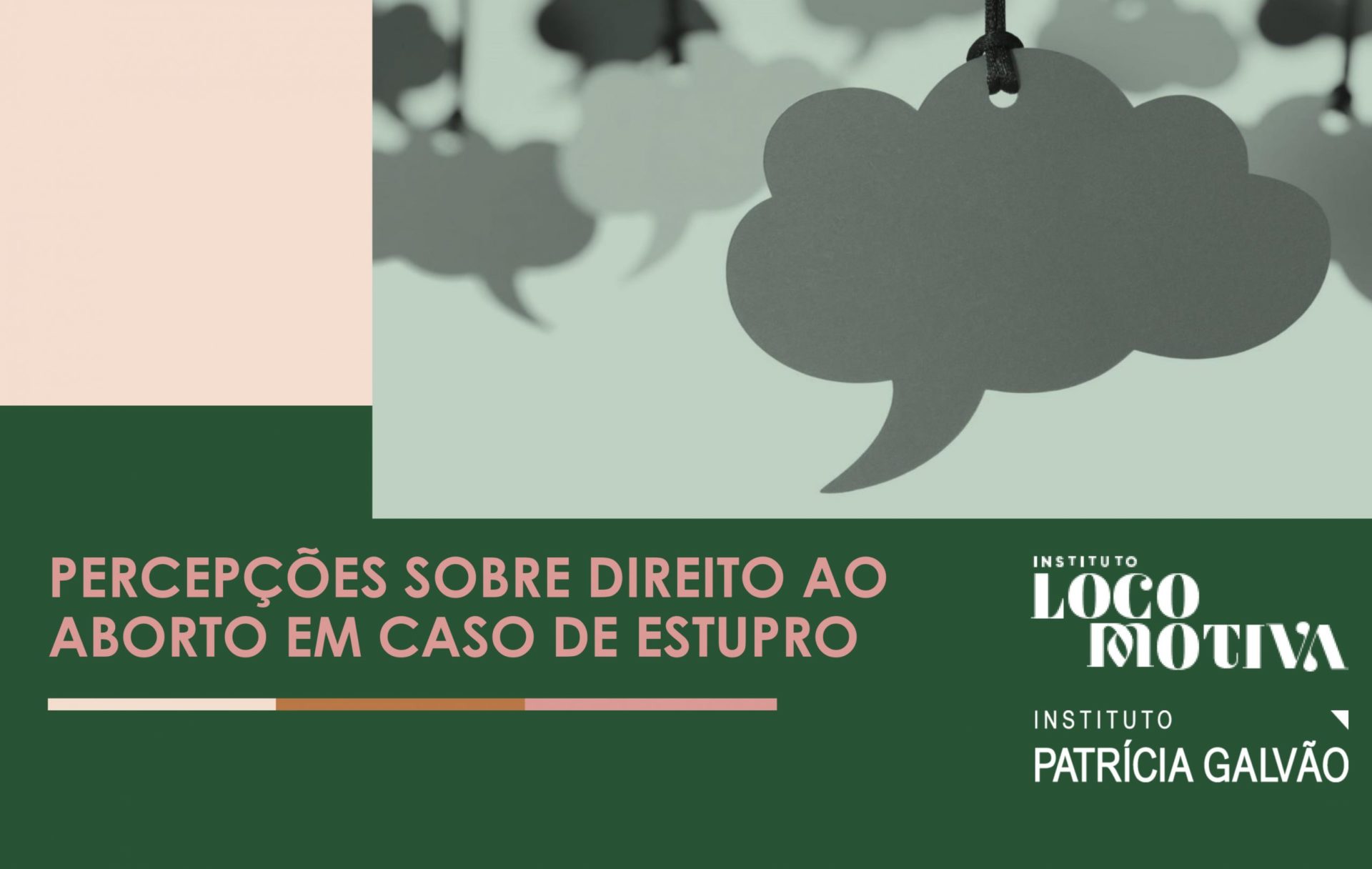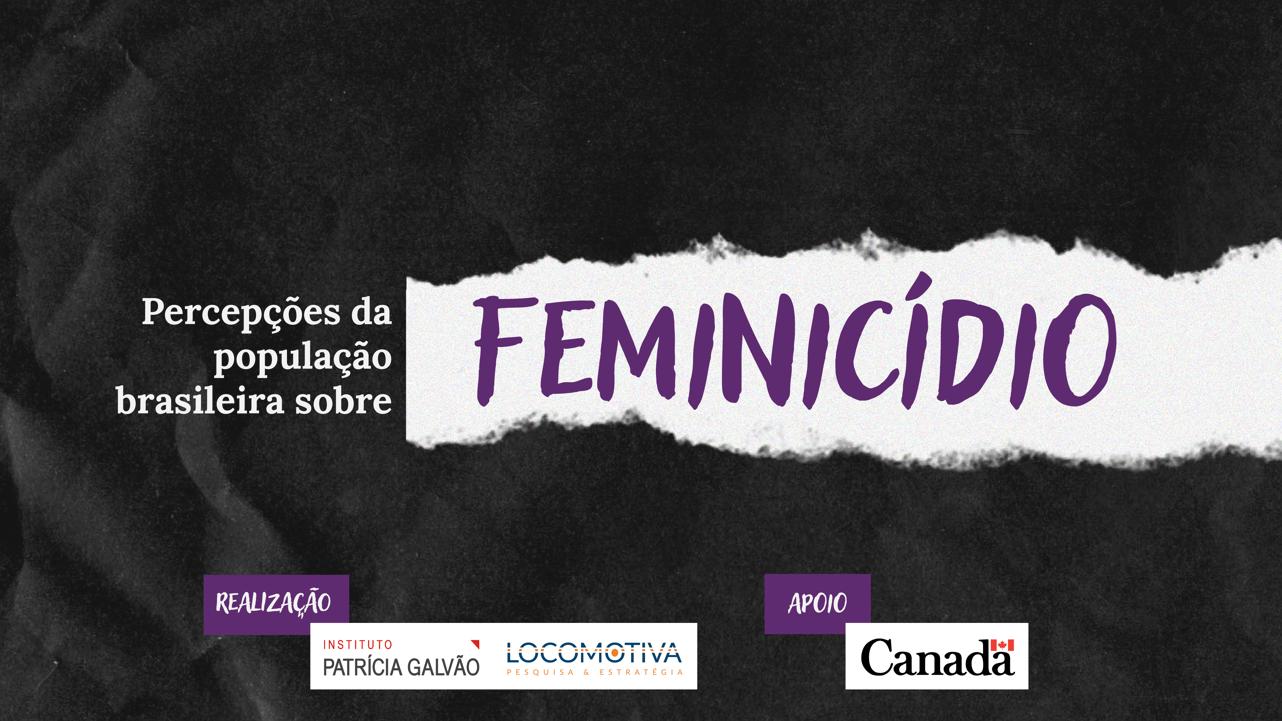Se o assédio é sistêmico, não adianta fingir que é “caso isolado”. É o modelo de trabalho que adoece, silencia e descarta — e as vítimas pagam a conta
9 de abril de 2024 foi o dia em que tomei consciência de que eu era mais uma vítima de assédio, intimidação, retaliações e descredibilização da alta liderança da organização em que eu trabalhava. E onde fui muito feliz.
Machucada, exausta e com a autoestima destruída, pedi demissão. Menos de seis meses depois, tive um burnout. Fiquei 120 dias afastada do meu novo emprego e precisei pausar a carreira que, como para tantas pessoas da minha geração, definia minha identidade e senso de valor. Sigo lidando até hoje com a ansiedade, depressão e estresse pós-traumático: diagnósticos comuns a quem passa por isso. Algumas semanas antes, eu e outras 12 vítimas havíamos denunciado o que vivemos.
Um ano depois, tenho me dedicado a estudar o assédio institucional, em diálogo com meus estudos de gênero e direitos humanos. O tema ganhou atenção com casos de grande repercussão e com o salto dos afastamentos por saúde mental, sinais de esgotamento do modelo atual de relações de trabalho e da centralidade deste em nossas vidas.
Há muitos enfoques possíveis, mas nesta coluna darei uma pincelada em três deles, sem qualquer pretensão de esgotar o tema. Vamos falar sobre o que é e como se manifestam os assédios moral e o institucional; como gênero, raça e classe se entrelaçam neste tipo de violência; e quem são os sujeitos desta dinâmica.
Falta de dados dificulta compreensão das causas e soluções
Dados públicos consistentes e comparáveis, que nos permitam trabalhar melhor as causas, sintomas e remédios ainda são escassos, especialmente sobre assédio moral e institucional. A literatura nacional também é tímida e, para além dos números, precisamos investigar o pano de fundo deste tipo específico de violência.
As hipóteses, muitas vezes tratadas como fatos, são muitas. Sabe-se, empiricamente, que mulheres são mais assediadas. Mas que mulheres? Em quais contextos? De que maneira? Homens assediam mulheres de modo diferente de como assediam outros homens? E quando a raça entra em campo? Mulheres brancas assediam mais ou menos outras mulheres ou homens negros em comparação aos homens brancos?
A possibilidade de novas questões é quase infinita, afinal, como estereótipos de raça, gênero e classe afetam a percepção de liderados e lideradas e de líderes sobre assédio? Será que comportamentos mais assertivos, naturalizados para homens brancos, são considerados mais agressivos quando vêm de uma mulher ou de um homem negro?
Vejam que a intersecção de gênero, raça e classe não é tão óbvia. Incluir homens negros e homens brancos, e também mulheres negras e brancas, no mesmo “bloco” distorce o fenômeno. Ainda assim, análises sobre assédio quase sempre restringem-se ao binarismo: homem x mulher.
Empresas adotam definições desatualizadas
Materiais de consultorias, treinamentos e políticas internas de organizações adotam a ideia desatualizada de que é preciso intencionalidade e repetição para caracterizar assédio. No entanto, a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho (OIT – C190), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) são unânimes no entendimento de que são os danos físicos, emocionais e profissionais sofridos pela vítima que configuram o assédio.
Por isso é essencial estudar o tema com rigor: esses critérios defasados e não centrados na vítima vulnerabilizam pessoas e protegem apenas o CNPJ. Pior: dá conforto a assediadores (“não tive intenção”, “foi só uma vez”), enquanto revitimiza (“é o jeito dele/dela”, “não foi por mal”, “é coisa da sua cabeça”, “você exagerou”).
Ao contrário do que se imagina, no Brasil não existe uma lei única e específica sobre assédio moral. O que há é um conjunto de normas que reconhece a ilegalidade de condutas como retirar autonomia da profissional sem justificativa plausível, contestar continuamente as decisões dela, espalhar rumores sobre a vítima, ameaçar constantemente com demissão.