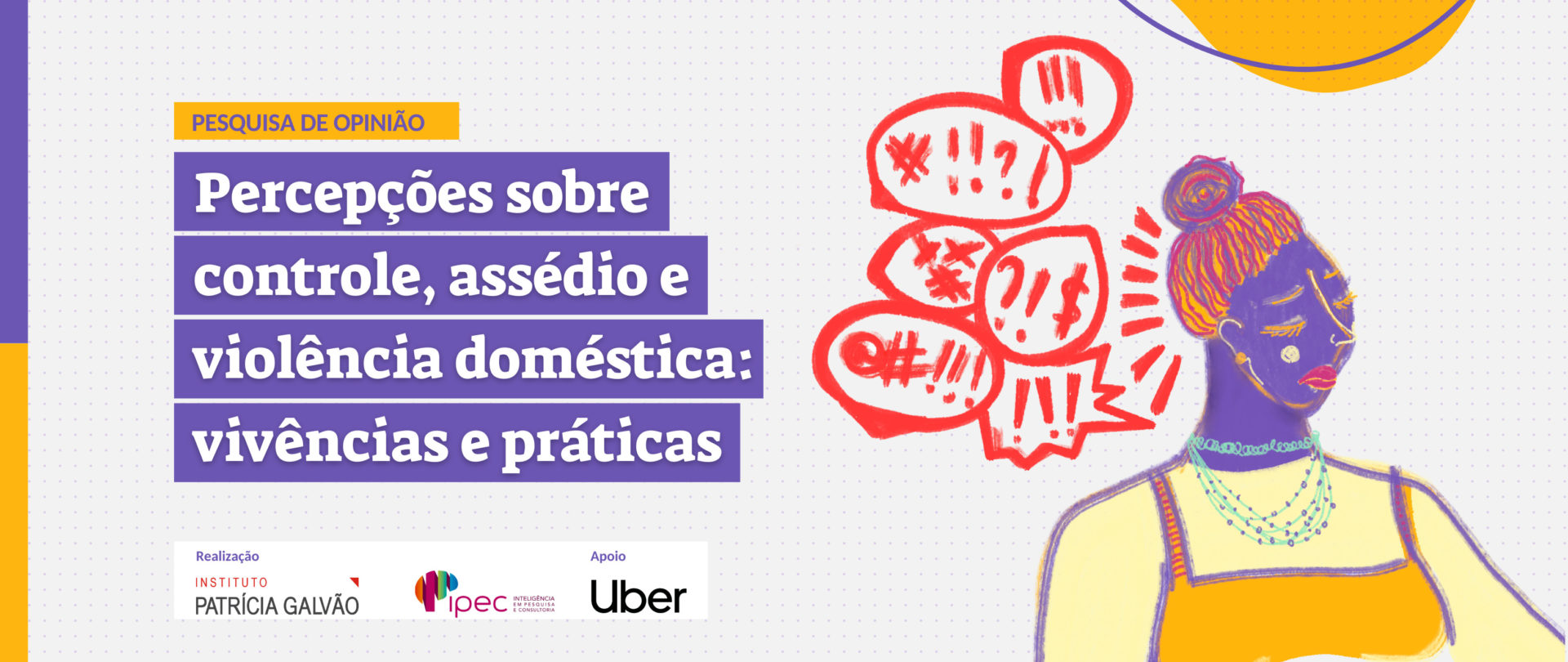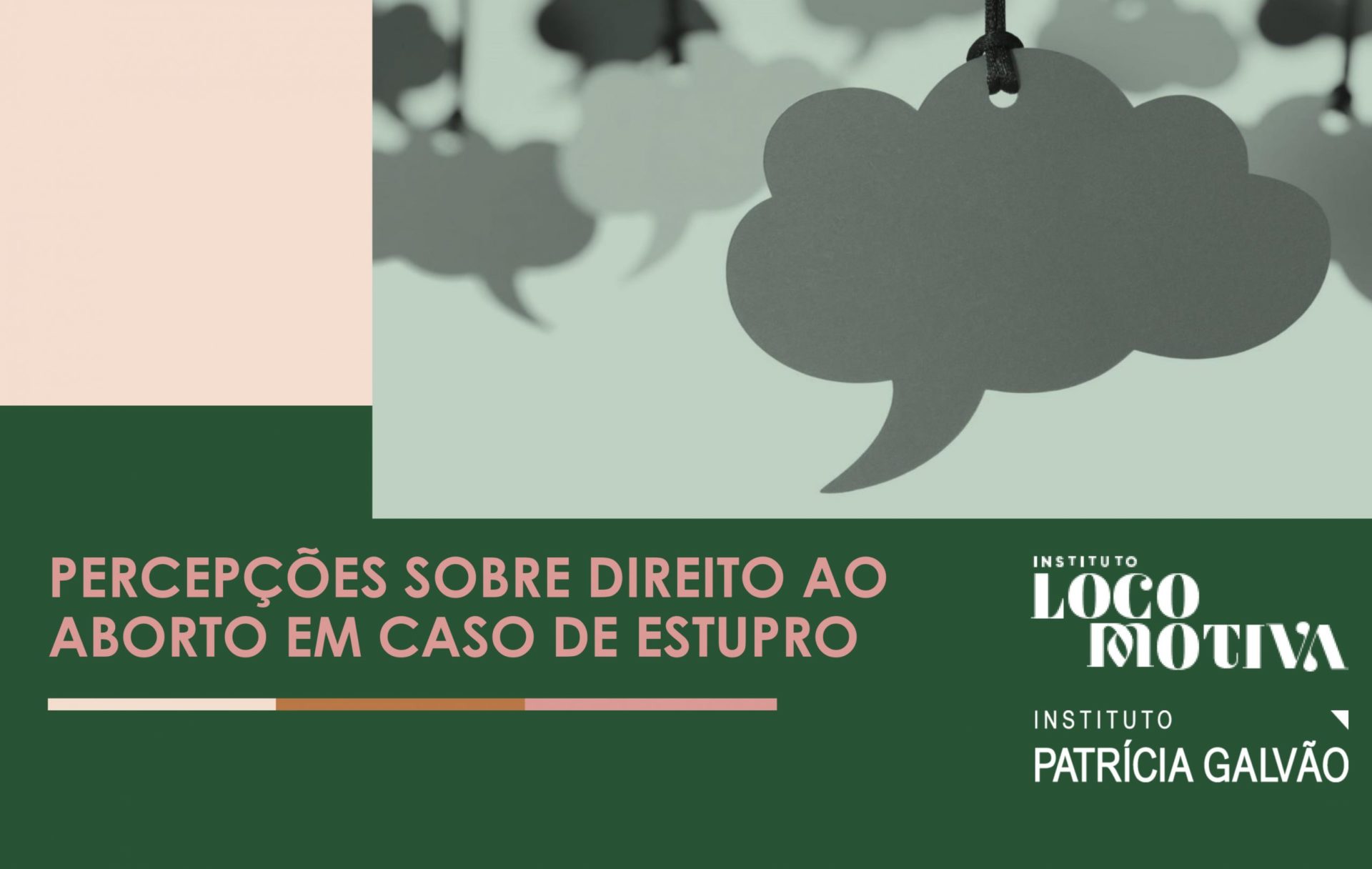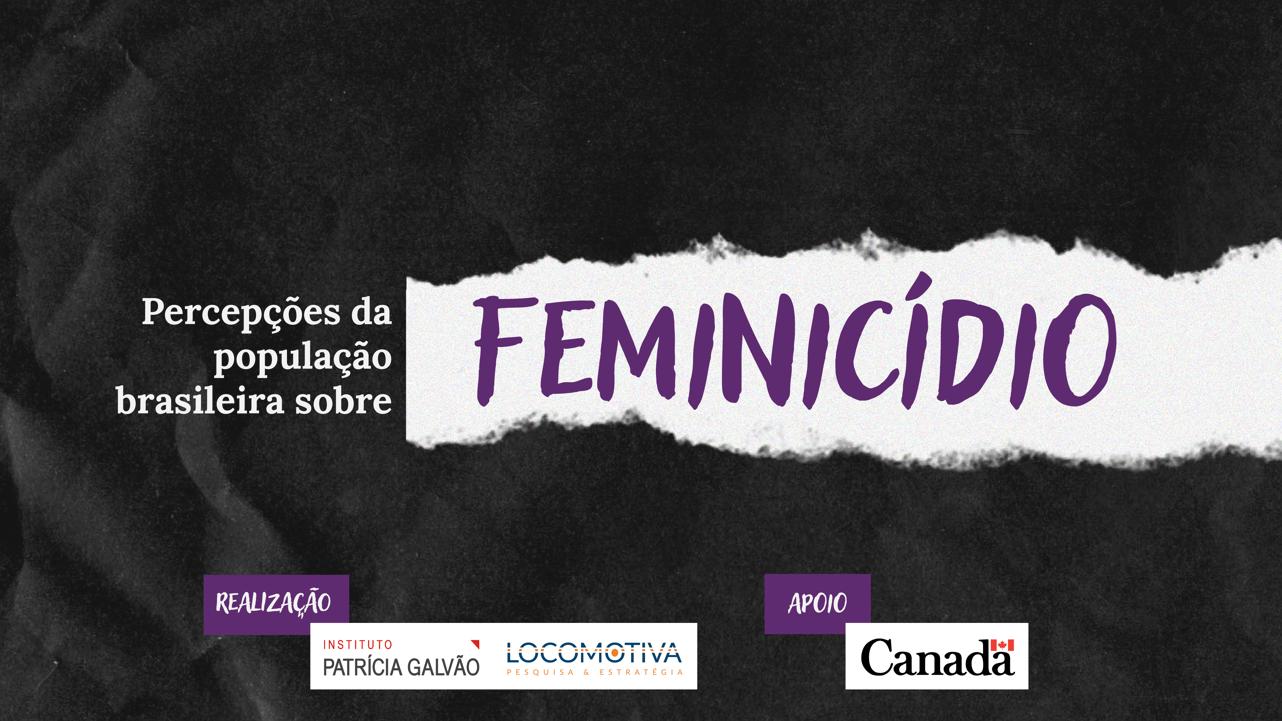As experiências de mulheres anônimas, pobres e negras – como a minha mãe – orientam a forma como eu me posiciono politicamente, sobretudo, como feminista
Eu sou Taina Silva Santos, nascida, crescida e calejada em São Paulo, capital. Filha de Solange Maria da Silva e Ivair dos Santos. Nasci de uma mulher mineira que foi frequentadora assídua de bailes negros paulistanos da década de 1980 e trabalhadora doméstica a maior parte da vida. E meu pai é um homem paulista da Zona Sul de São Paulo, Grajaú, que reveza as atividades de pedreiro, cuidador de carros, motorista, ritmista de escola de samba e boêmio nato.
São muitas águas na história dessa família. Ora serenas, mas turbulentas durante a maior parte do tempo, provocando abalos na nossa relação uns com os outros. Para nós três, a vida foi difícil, dura e quase sempre hostil. A minha mãe sempre foi o meu farol, admiro a coragem e a garra que ela tem, o sorriso no rosto, a disposição para a vida e a perseverança que Dona Solange possui.
Ela sempre me convidou a ver a vida pelo lado positivo, apesar de todas as adversidades que dão o tom de ser negra e pobre no Brasil. Mesmo diante da escassez e da violência, minha mãe dizia que um dia, eu faria faculdade para não trabalhar “na mesma coisa que ela”. Como estávamos sempre juntas, volta e meia, ela me contava de alguma situação que tinha acontecido na casa de umas das patroas que ela teve. Nunca esqueço das histórias que Dona Solange me contou sobre os primeiros empregos que ela conseguiu como trabalhadora doméstica na cidade de São Paulo.
A história da minha mãe reflete a experiência de outras trabalhadoras
Uma das histórias ocorreu em umas das casas de gente endinheirada que ela trabalhou no começo dos anos 1990. Minha mãe limpava o domicílio, lavava roupa, passava, cozinhava e a patroa a proibia de comer carne e comida fresca. Ela passou um tempo considerável nessa situação até se rebelar. Eu fiquei chateada quando ela me contou que isso acontecia com a condescendência de algumas pessoas da minha família, que achavam normal submeter uma trabalhadora negra a essas condições.
Por essas e outras situações, eu acredito que práticas escravistas ainda imperam na cultura do trabalho no Brasil. As relações de poder e as hierarquias sociais ainda são permeadas pelos costumes senhoriais em diversos espaços do mercado de trabalho, mas no trabalho doméstico isso fica mais evidente. Um dia, pretendo escrever sobre essa questão com mais profundidade. Por ora, voltemos ao mote deste texto.
Apesar do otimismo da minha mãe, eu me tornei alguém com pouca esperança. Como acreditar em um futuro melhor, vendo as pessoas da minha família trabalharem a vida inteira e chegarem na velhice sem casa própria, dividindo dois, ou três cômodos apertados com outras duas, ou mais pessoas? Cheguei a conversar sobre isso com a Dona Solange algumas vezes, antes de eu me tornar adulta. Ela me dizia que aquilo tinha acontecido com as pessoas da nossa família porque elas e eles não tinham estudado o suficiente.
Para mim, tudo parecia muito longe e difícil de se realizar. Contudo, as transformações sociais e políticas que aconteceram no Brasil a partir dos anos 2000 (graças aos movimentos negros e de mulheres negras) abriram novos caminhos. Os jovens da minha geração tiveram um pouco mais de oportunidades de estudo e trabalho.
Lidando com a raiva e com a indignação
Nunca me desceu goela abaixo essa história da minha avó, quase todas as minhas tias e primas trabalharem como empregadas domésticas e passarem por situações humilhantes para sustentar os filhos e filhas (muitas vezes sozinhas). Tenho apreço por essa profissão e a considero digna, pois é o trabalho doméstico que emprega, em maior quantidade, as mulheres com a minha cor e com a minha história.
Além disso, foi por meio dele que a minha mãe obteve os recursos que me permitiram ingressar na universidade pública aos 17 anos e que me trouxeram novas perspectivas. Horizontes que me permitiam vislumbrar outras oportunidades além de ser empregada, trabalhar como garçonete, atendente de telemarketing ou caixa de empresa de fast food.
Em certa altura da minha vida, eu precisei tomar um posicionamento ético e, consequentemente, político em relação à revolta e à raiva que eu sentia. Graças ao encontro com os movimentos sociais, eu tive a oportunidade de elaborar a minha experiência histórica como mulher negra em espaços coletivos e isso foi fundamental para a minha formação.
O cursinho popular na Associação Cultural de Estudantes e Pesquisadores da Universidade de São Paulo (ACEPUSP) e a entrada na faculdade foram passos importantes. Assim que iniciei a graduação em Matemática, eu me envolvi com o movimento por moradia estudantil da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e com um coletivo de orientação marxista. No segundo ano, eu me tornei professora do cursinho ATHO e o contato com os debates sobre política, cultura e sociedade me direcionaram ao meu desejo de estudar História, algo que eu já nutria há algum tempo.
A coragem de seguir o caminho que eu desejava
Eu já tinha perdido o medo de não conseguir emprego se estudasse Ciências Humanas. Minha mãe dizia que, para dar certo na vida, eu tinha que tentar ser secretária, funcionária pública ou de banco. Comecei a graduação em Matemática com essa intenção, mas larguei o curso no 4° semestre e fui estudar História na Universidade Estadual de Campinas.
Bastante influenciada pelas experiências no movimento estudantil, no grupo de estudos marxistas, na luta pelas cotas raciais na Unesp, eu cheguei no curso de História bem letrada politicamente. Estava cansada do perfil de organizações pautadas pelos anseios da classe média branca de São Paulo que só enxergam potência na organização sindical de trabalhadores brancos descendentes dos imigrantes europeus da primeira metade do século 20.
Me incomodava debater sobre trabalho, por exemplo, com pessoas que nunca trabalharam na vida e que achavam normal ter crescido sob os cuidados de uma babá ou de uma empregada doméstica. Lógico que isso nunca era pauta na discussão dos caminhos para a transformação social. Foi nessa época que eu me aproximei do movimento negro e de mulheres negras.
Nesses espaços, eu fiz outra faculdade. Aprofundei a minha militância pelas cotas raciais e consegui mais recursos para lidar com as minhas angústias. Ainda assim, continuava inconformada com a naturalização da mulher negra como empregada doméstica. Principalmente, pelo fato de eu já estar estudando e não conseguir uma fonte de renda que me garantisse mais de 900 reais por mês.
Lembrava das justificativas da minha mãe em relação à escolha que ela fez de não sair do trabalho doméstico. Ela dizia que ganhava mais como diarista do que se trabalhasse com carteira assinada como caixa de supermercado, atendente, trabalhadora da limpeza em regime de terceirização. Eu tinha medo do que poderia ser o meu futuro e o sonho da estabilidade financeira parecia cada vez mais distante.
Em busca de explicação para a minha condição de vida
A forma que eu encontrei para responder à minha insegurança foi estudando. Eu achava que precisava de argumentos para encarar os embates com “os brancos de esquerda”, mas, na verdade, hoje, eu entendo que estava procurando uma explicação para a minha condição de vida.
Na primeira oportunidade, eu procurei a única professora negra que eu tinha na faculdade e disse para ela que eu gostaria de estudar o trabalho doméstico, que eu queria saber mais sobre a história dessas mulheres na formação da classe trabalhadora no Brasil. Ela topou o desafio e me colocou para estudar trabalho livre e trabalho escravo durante o século 19 em diversas regiões do mundo atlântico.