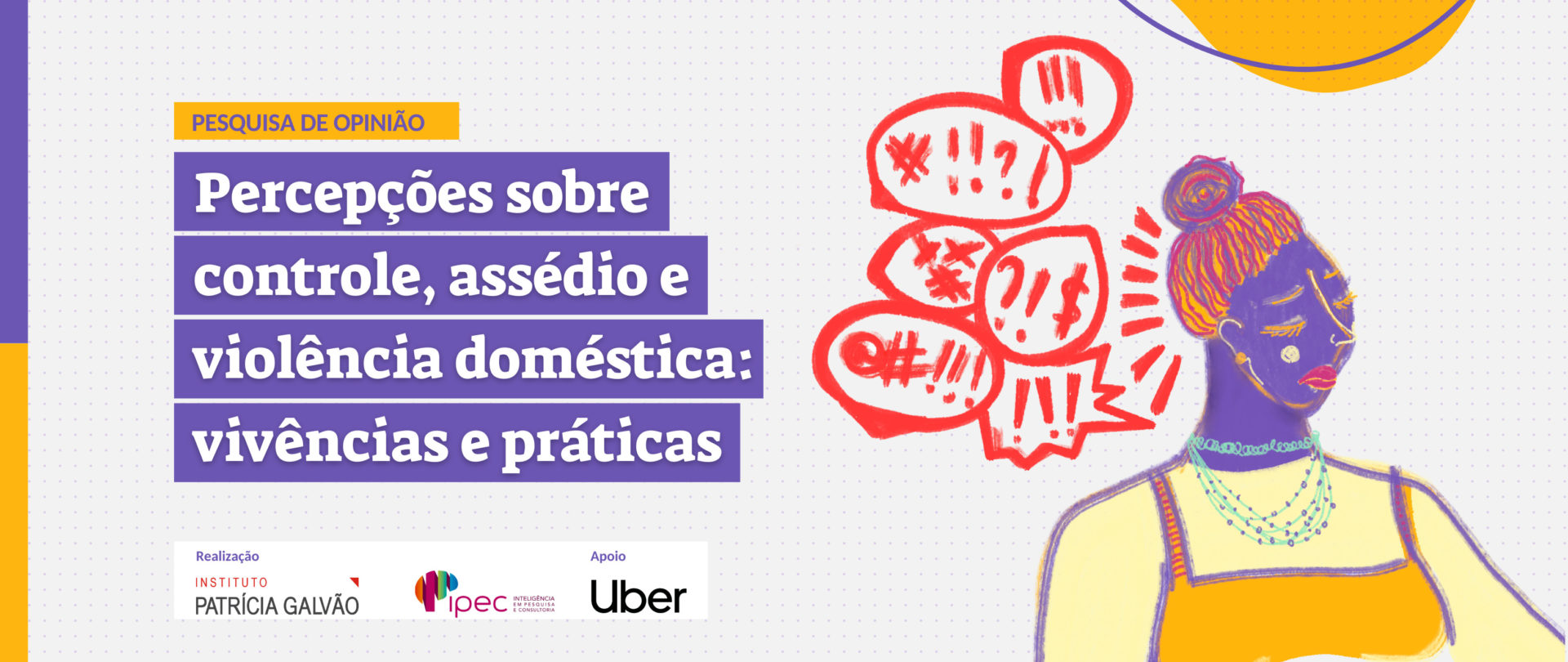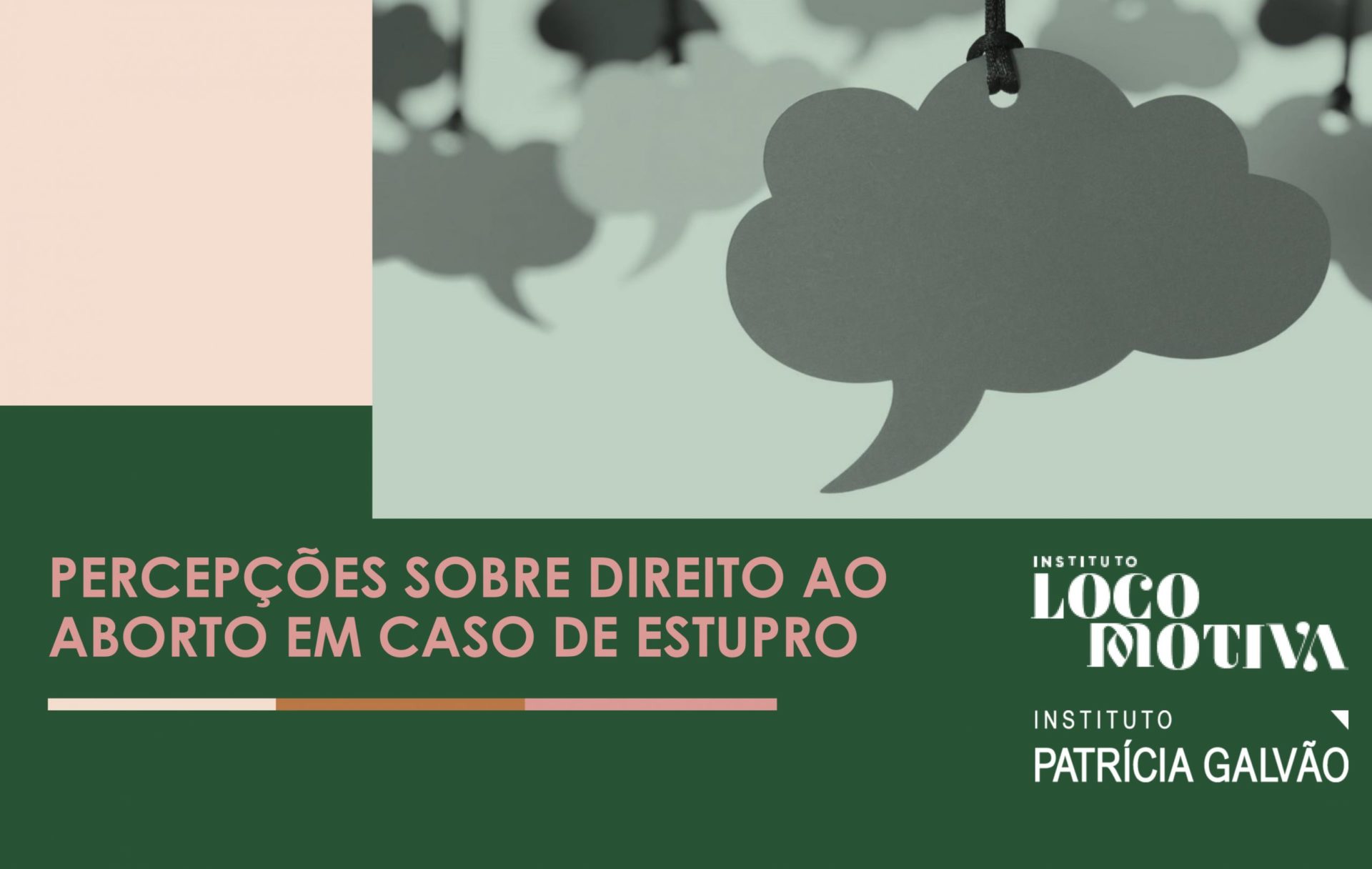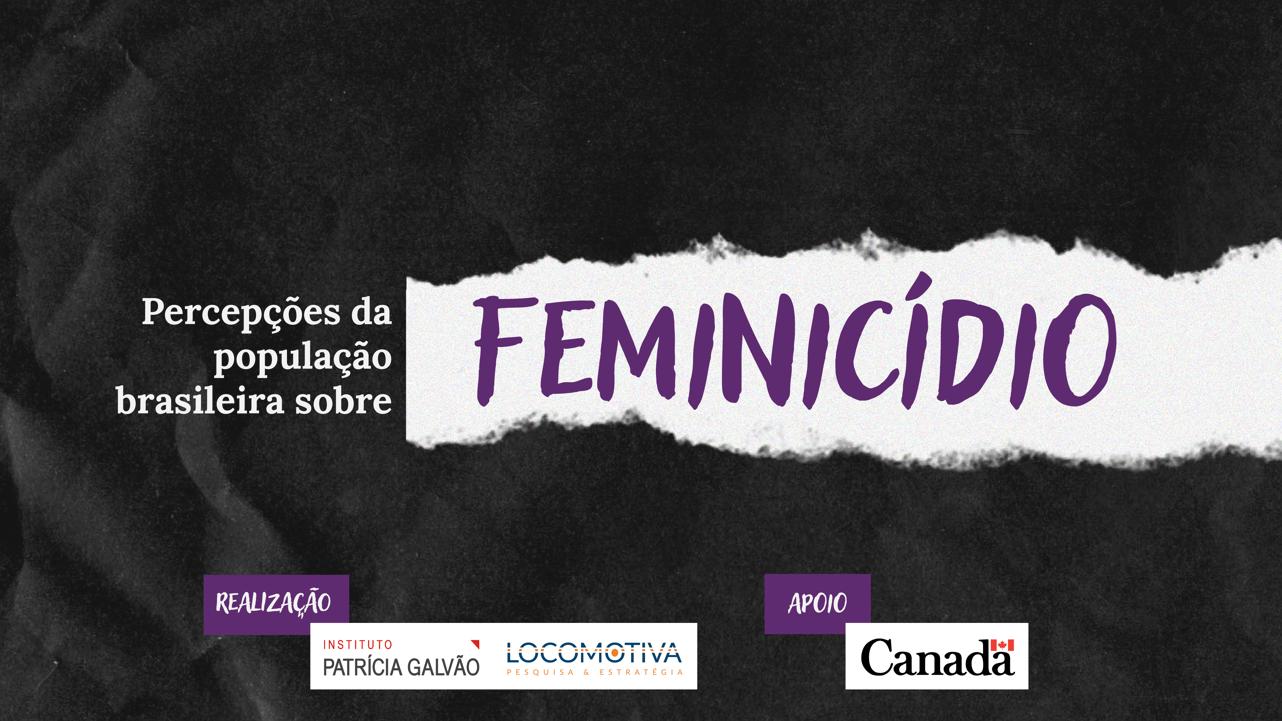Análise jurídica do decreto 12.636/25 evidencia avanço na proteção de órfãos do feminicídio, detalha requisitos da pensão especial e defende políticas integradas de prevenção e suporte.
Introdução: A construção da sociedade brasileira, a posição da mulher e a violência de gênero
A formação histórico-social do Brasil consolidou-se em torno de uma matriz patriarcal que organizou assimetrias de gênero e definiu a posição social das mulheres. Desde o período colonial, a identidade do “ser mulher” foi construída em oposição ao “ser homem”, no interior de um binarismo hierarquizante que constrangeu as interpretações socioculturais e naturalizou a subordinação feminina 1. A historiografia oficial – em grande medida produzida e legitimada por vozes masculinas – apagou os protagonismos femininos e reduziu suas identidades aos papéis de filha, esposa e mãe, socialmente desvalorizados. Essa dinâmica é amplamente reconhecida pela literatura clássica sobre patriarcado e “contrato sexual”, que evidencia os mecanismos históricos de exclusão e subalternização das mulheres no espaço público e privado.
Do ponto de vista demográfico, o Censo Demográfico de 2022 registra uma população composta por cerca de 104,5 milhões de mulheres (51,5%) e 98,5 milhões de homens (48,5%) 2. Embora constituam maioria numérica, tal predominância decorre, em grande medida, da sobremortalidade masculina por causas externas em todas as idades – notadamente entre jovens – o que faz com que, a partir do grupo etário de 25-29 anos, as mulheres se tornem maioria em todas as regiões do país. Essa vantagem proporcional, contudo, não se converte automaticamente em equidade material, pois persistem estruturas patriarcais que, historicamente, relegaram as mulheres a posições de vulnerabilidade e desvantagem sociopolítica e econômica.
Nesse cenário, a violência contra a mulher – grave e persistente violação de direitos humanos – permanece em patamares alarmantes. A 5ª edição da pesquisa “Visível e Invisível” (2025) apurou que 37,5% das brasileiras sofreram algum tipo de violência nos 12 meses anteriores, o que corresponde a, no mínimo, 21,4 milhões de vítimas – o maior índice da série iniciada em 20173. Dentre as agressões registradas, destaca-se que 10,7% das mulheres – cerca de 5,3 milhões – relataram abuso sexual e/ou coação para manter relação sexual no mesmo período. Observa-se, ademais, predominância de ocorrências em ambientes conhecidos e com presença de terceiros, evidenciando déficits de proteção e processos de naturalização da violência no cotidiano, com efeitos que tendem a retroalimentar ciclos intergeracionais de vitimização.
À luz do ordenamento jurídico, tais indicadores reforçam a necessidade de conferir plena efetividade às garantias constitucionais – igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, I) e dever estatal de coibir a violência nas relações familiares (art. 226, § 8º) -, de aplicar com rigor a lei 11.340/06 (lei Maria da Penha) e de observar os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, notadamente a Convenção de Belém do Pará e a CEDAW. Soma-se a isso a jurisprudência consolidada quanto à natureza inibitória e autônoma das medidas protetivas de urgência (STJ, Tema 1.249) e à ampliação da persecução penal nos casos de violência doméstica (STF, ADIn 4.424), impondo respostas estatais céleres, integradas e baseadas em evidências
1. Sociedade patriarcal e feminicídio
O patriarcado – entendido como um sistema histórico de organização social que atribui poder e controle masculinos sobre a vida das mulheres – constitui a base estrutural de legitimação da violência de gênero, tendo no feminicídio sua expressão extrema 4. No interior dessa ordem, a mulher é frequentemente reificada como objeto de posse, autorizando, na prática, a pretensão masculina de dispor de sua vida e de seu corpo, inclusive em termos de “direito” de vida ou morte sobre a parceira 4. Enraizada desde o período colonial, a cultura patriarcal brasileira opera como matriz normativa e simbólica que naturaliza hierarquias sustenta práticas de dominação e favorece a reprodução de violências, iluminando a forma pela qual arranjos sociais e padrões culturais incidem na dinâmica do feminicídio 1-4.
A prática reiterada de culpabilização das vítimas, a restrição indevida de suas liberdades e a minimização das responsabilidades dos agressores configura desdobramentos diretos de uma ordem patriarcal, incompatíveis com os comandos constitucionais de dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), igualdade material entre mulheres e homens (art. 5º, caput e inciso I) e dever estatal de coibir a violência nas relações familiares (art. 226, § 8º). No plano infraconstitucional e convencional, tais práticas afrontam a lei 11.340/06 (lei Maria da Penha), a lei 13.104/15 – que qualificou o feminicídio como circunstância qualificadora do homicídio (art. 121, § 2º, VI, e § 2º-A, do CP) -, bem como os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil perante a Convenção de Belém do Pará e a CEDAW 4.
A forma mais extrema da violência de gênero, o feminicídio, mantém-se em patamar crítico. Em 2024, registraram-se 1.492 feminicídios no país – média de quatro mortes por dia -, o que representa aumento de 0,7% em relação a 2023 5. A taxa correspondente alcançou 1,4 por 100 mil mulheres, com perfil vitimário majoritário de mulheres negras (63,6%) e faixa etária de 18 a 44 anos (70,5%). É especialmente preocupante a elevação de 30,7% nos feminicídios de adolescentes (12 a 17 anos) e de 20,7% entre mulheres com 60 anos ou mais. O domicílio da vítima aparece como principal locus criminis (64,3%), e os autores são, predominantemente, companheiros (60,7%) e ex-companheiros (19,1%), que, somados, respondem por quase 80% dos casos.
Para além da perda irreparável da mulher, o feminicídio produz efeitos devastadores sobre o núcleo familiar, com especial gravidade para filhos e filhas. Embora inexistam, até o momento, estatísticas oficiais consolidadas sobre a orfandade decorrente desse crime, estimativas apontam que, em 2021, aproximadamente 2,3 mil crianças e adolescentes tornaram-se órfãos, número que se manteve em torno de 2.529 em 2022; projeta-se, em termos gerais, cerca de 3 mil órfãos anuais por feminicídio no Brasil 6. Não raro, somam-se ao trauma da perda materna a ausência paterna – em razão de prisão ou suicídio do agressor -, a súbita vulnerabilização socioeconômica, o comprometimento do percurso escolar e o incremento de riscos sociais, inclusive de vitimização secundária e envolvimento com a criminalidade 6.
Sob a ótica jurídico-constitucional, tais impactos impõem a observância do dever de proteção integral e da prioridade absoluta de crianças e adolescentes (CF, art. 227), bem como a efetividade do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 8.069/1990), que orienta a atuação articulada do Sistema de Garantia de Direitos (arts. 4º, 86-88) e prevê medidas de proteção específicas (art. 101). No âmbito infraconstitucional, cumpre assegurar a escuta especializada e o depoimento especial, nos termos da lei 13.431/17 além de mobilizar a rede intersetorial (assistência social, saúde, educação, segurança pública e justiça) para oferta de acolhimento, definição célere de guarda, tutela ou colocação em família substituta, acompanhamento psicossocial, manutenção do vínculo escolar e acesso a benefícios e prestações de natureza assistencial ou previdenciária cabíveis.
2. Aspectos socioeconômicos e o ciclo da violência
A dependência financeira configura elemento determinante para a perpetuação do ciclo de violência doméstica, por acentuar a assimetria de poder nas relações e restringir a autodeterminação da mulher. Evidências empíricas indicam correlação inversa entre renda e incidência de violência, de modo que a redução de recursos eleva a probabilidade de vitimização 7. Nesses contextos, a insuficiência de autonomia econômica inviabiliza o rompimento do vínculo abusivo, pois a separação pode implicar a perda do sustento próprio e da prole. Tal quadro é agravado pelo exercício de controle patrimonial pelo agressor, prática reconhecida como forma de violência doméstica e familiar (lei 11.340/06, art. 7º, IV), em ofensa à dignidade da pessoa humana e à igualdade substancial asseguradas pela CF/88 (arts. 1º, III, e 3º, IV). A vulnerabilidade socioeconômica, portanto, opera como mecanismo de dominação e manutenção da violência, conforme demonstram os estudos citados 7.
À vista desse quadro fático, o ordenamento tem buscado instrumentos normativos para mitigar os efeitos da dependência econômica na perpetuação da violência doméstica. No plano infraconstitucional, tramitam iniciativas legislativas como o PL 3.324/23, que propõe conferir prioridade, no âmbito do Programa Bolsa Família, às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que se encontrem amparadas por medidas protetivas de urgência, a fim de assegurar-lhes proteção social imediata e favorecer sua autonomia econômica 7. A proposta harmoniza-se com os comandos constitucionais da assistência social voltada à redução das vulnerabilidades e à proteção da família, da maternidade e da infância (art. 203), com o dever estatal de coibir a violência no âmbito das relações familiares (art. 226, § 8º), com a lei 8.742/1993, que estrutura o SUAS, e com a lei 11.340/06, que disciplina medidas protetivas de urgência. Nesse horizonte, a priorização no acesso a benefícios socioassistenciais opera como vetor de dignidade, prevenção e ruptura do ciclo de violência, em consonância com a finalidade pública de promoção do mínimo existencial e da igualdade material.
3. O decreto 12.636/25 e a lei 14.717/23: Um marco de proteção
No contexto de urgência e de tutela reforçada, o decreto 12.636, de 29/9/25, regulamenta a lei 14.717, de 31/10/23, que institui pensão especial aos filhos e demais dependentes, crianças ou adolescentes, tornados órfãos em razão do crime de feminicídio. A normatividade decorre de situações concretas em que ascendentes, notadamente avós, assumem a guarda dos netos sem recursos suficientes, e busca assegurar meios de subsistência e de desenvolvimento integral, em consonância com a dignidade da pessoa humana, com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta previstos no art. 227 da CF/88 e no ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. A prestação assistencial específica funciona como instrumento de ruptura do ciclo de vulnerabilidade, garantindo alimentação, manutenção e condições materiais mínimas para o pleno desenvolvimento físico, psíquico e social dos beneficiários.
A norma estabelece que o benefício destina-se aos filhos e demais dependentes menores de 18 (dezoito) anos, órfãos em razão do crime de feminicídio, tipificado no inciso VI do § 2º do art. 121 do decreto-lei 2.848, de 7/12/1940 (CP), condicionada sua concessão à renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. O valor do benefício corresponderá a 1 (um) salário mínimo, devendo ser rateado em cotas iguais entre todos os dependentes habilitados.
A tutela estatal mostra-se reforçada ao dispor a legislação que a percepção da pensão especial não exonera o genitor do dever de prestar alimentos, obrigação de natureza personalíssima e autônoma, fundada no art. 229 da CF/88 e nos arts. 1.694 e seguintes do CC.
A prestação será devida às crianças e aos adolescentes que preencham os requisitos de elegibilidade na data de publicação da lei, abrangendo inclusive os casos de feminicídios ocorridos anteriormente, sem, contudo, gerar efeitos financeiros retroativos, em observância ao princípio da irretroatividade. O benefício extinguir-se-á quando o beneficiário atingir 18 (dezoito) anos de idade ou em caso de seu falecimento, hipótese em que a respectiva cota, nos termos legais, será revertida aos demais dependentes habilitados.
3.1. Funcionamento e requisitos da pensão especial
O decreto 12.636/25 disciplina a operacionalização da pensão especial. A proteção alcança, igualmente, os filhos e dependentes de mulheres transgênero vítimas de feminicídio, bem como crianças e adolescentes órfãos sob tutela do Estado, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral previsto no art. 227 da CF/88 e no Estatuto da Criança e do Adolescente 8.
Para a aferição do direito, considera-se família a unidade co-residente cujos membros compartilham rendimentos e despesas, renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos de todos os integrantes e renda familiar per capita o quociente entre aquela soma e o número de pessoas da família. São dependentes o enteado, a criança ou o adolescente sob guarda ou tutela, provisória ou definitiva, da mulher vítima, desde que comprovada à dependência econômica nos termos do Regulamento da Previdência Social.
O representante legal do órfão deverá comprovar a condição por documento judicial idôneo, como termo ou certidão de guarda, termo de tutela ou certidão de nascimento atualizada que contenha informação sobre a guarda. A pensão não gera abono anual, não sofre descontos e é inacumulável com benefícios previdenciários do regime geral ou de regimes próprios, bem como com pensões ou benefícios do sistema de proteção social dos militares, facultada a opção pelo benefício mais vantajoso.
A operacionalização da pensão especial compete ao Instituto Nacional do Seguro Social, a quem incumbe receber e processar os requerimentos, bem como decidir sobre sua concessão. O protocolo deverá ocorrer pelos canais oficiais de atendimento do INSS, em observância aos princípios da eficiência administrativa e da segurança jurídica que regem a atuação estatal.
Para a concessão, manutenção e revisão do benefício, exige-se a regular inscrição no CPF e a identificação civil do beneficiário, preferencialmente por documento oficial com foto da criança ou do adolescente, admitida, quando inviável, a certidão de nascimento. Impõe-se, ainda, a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com atualização obrigatória a cada vinte e quatro meses a contar da inclusão, da última atualização ou revalidação, devendo constar o CPF do requerente e de todos os membros da família. A vinculação do óbito ao crime de feminicídio deve ser demonstrada por ato formal típico da persecução penal, tal como auto de prisão em flagrante, decreto de prisão preventiva, portaria inaugural ou relatório conclusivo de inquérito, oferecimento de denúncia, decisão cautelar ou de mérito que enquadre o fato como feminicídio, ou, por fim, sentença penal condenatória transitada em julgado. Nos casos em que o beneficiário figure como dependente da mulher vítima, exige-se a comprovação da guarda ou tutela, provisória ou definitiva, ou outro documento idôneo que evidencie a relação de dependência, cabendo às equipes socioassistenciais orientar a família quanto à imediata atualização do CadÚnico diante da nova composição familiar.
3.2. Requerimento administrativo
No ato do requerimento, o representante legal do filho ou dependente deverá apresentar identificação oficial com cadastro biométrico, número de inscrição no CPF, documento que comprove o vínculo da criança ou adolescente com a mulher vítima, prova da própria qualidade de representante legal e um dos documentos aptos a relacionar o fato ao feminicídio, nos termos já delineados. Ao representante legal estrangeiro residente no país, que não disponha de documento de identificação com biometria, admite-se a Carteira de Registro Nacional Migratório até a conclusão, pela União, do procedimento de validação biométrica aplicável. Veda-se a representação por autor, coautor ou partícipe do crime para fins de recebimento e administração da pensão, em atenção aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente; e, quando se tratar de crianças e adolescentes em serviço de acolhimento, a representação poderá ser exercida pelos dirigentes da entidade onde se encontrem acolhida, garantindo-se a continuidade do amparo material sem descurar da tutela jurisdicional e administrativa.
A concessão não se subordina à habilitação simultânea de todos os possíveis dependentes. A ausência de requerimento por eventual beneficiário não obsta a implantação imediata do benefício aos já habilitados, e a habilitação posterior produzirá efeitos exclusivamente a partir do respectivo protocolo, em consonância com a regra da non retroactivity das prestações não requeridas e com o princípio da eficiência administrativa.
Para fins de aferição da renda familiar per capita, a norma exclui do cômputo rendas de natureza eventual ou sazonal, bem como benefícios e auxílios assistenciais de caráter temporário e valores provenientes de programas de transferência de renda, ressalvado o BPC – Benefício de Prestação Continuada. Essa depuração da base de cálculo visa refletir a capacidade econômica real do grupo familiar e evitar distorções que comprometam o acesso de famílias em vulnerabilidade.