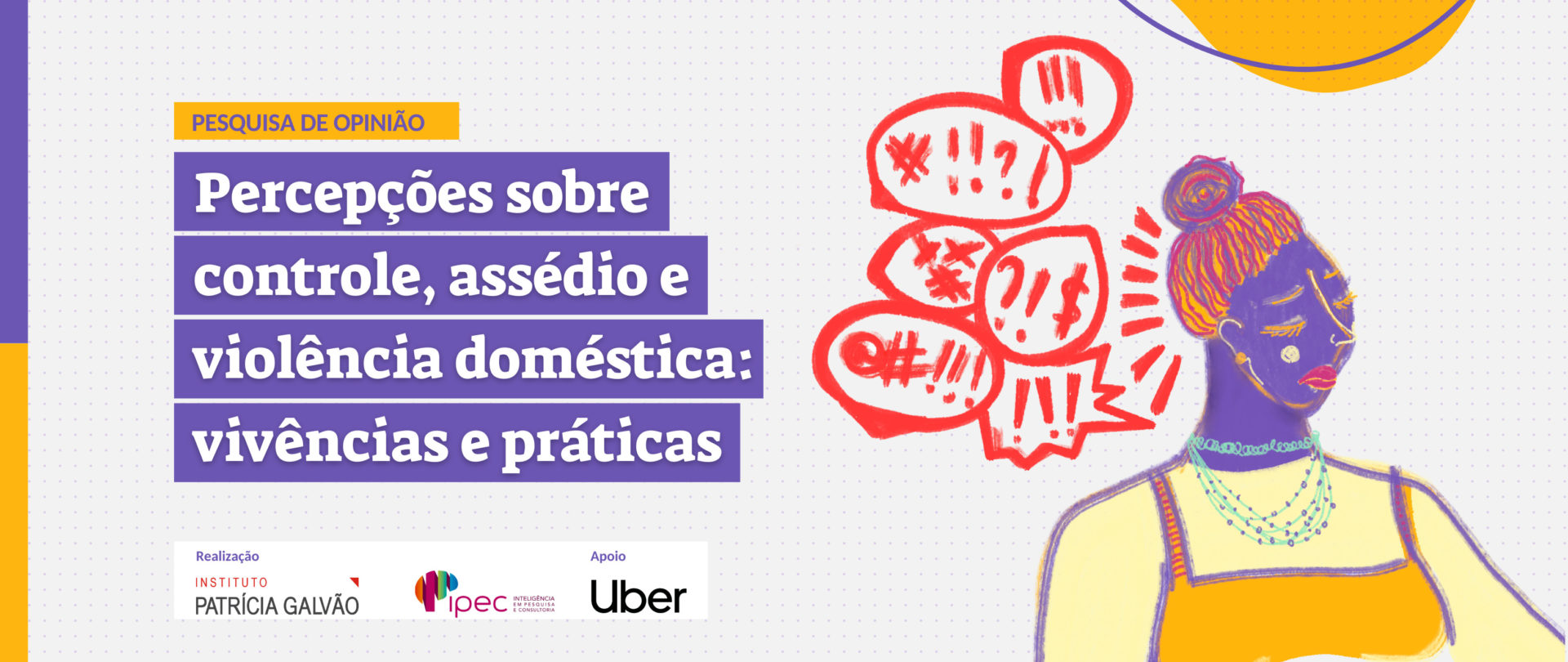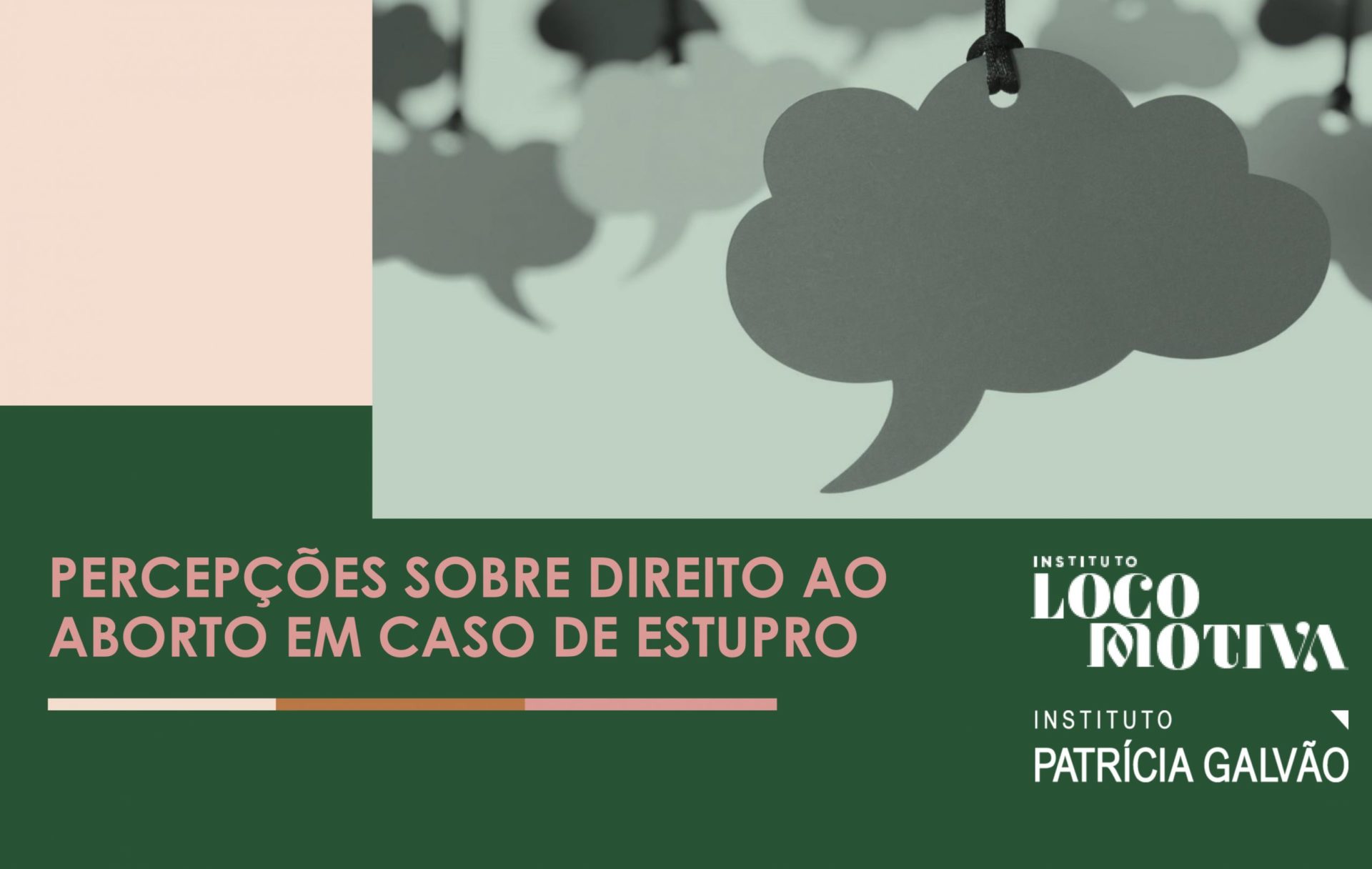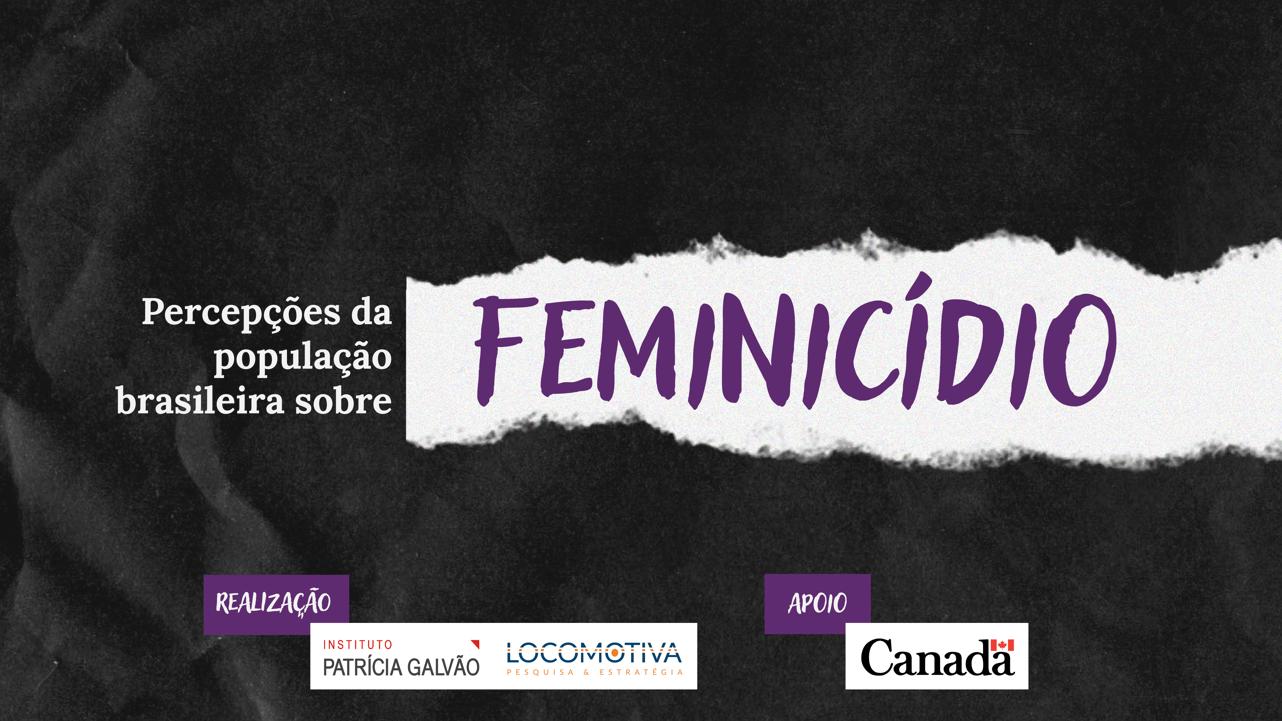Geração que inaugurou o orgulho LGBTQIA+ enfrenta preconceitos antigos dentro e fora da família e no próprio sistema de saúde.
Nos últimos anos, um número expressivo de pessoas LGBTQIA+ tem envelhecido com visibilidade no Brasil. A geração que lutou nas primeiras Paradas, que viu nascer o SUS e o casamento igualitário, agora vive a velhice. Mas, ao contrário do que se poderia imaginar, essa trajetória não garante um fim de vida mais digno: para muitos, a chegada à terceira idade pode significar um retorno forçado ao armário, seja em casas de acolhimento, no convívio familiar ou até mesmo no sistema de saúde.
Este ano, a 29ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo, considerada a maior do mundo, evidenciou em 22 de junho justamente esse debate ao trazer como tema: “Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro”.
“Você se afirma a vida inteira, mas, quando envelhece, precisa esconder de novo quem é para ser cuidado”, resume Dora Cudignola, 72 anos, presidente da Eternamente Sou, associação dedicada ao atendimento da população LGBTQIA+ idosa. Viúva, ex-professora e ativista, ela fala com a lucidez de quem aprendeu a se reconhecer e se aceitar com o tempo.
Lésbica, Dora relembra com carinho a relação de 13 anos com sua companheira Sílvia Regina Fracasso, coordenadora pedagógica com quem dividia casa, afetos e sonhos. Apesar da convivência estável, o medo do julgamento as impedia de viver o amor livremente. “Eu me arrependo de não termos andado de mãos dadas na rua. Amávamos tanto, por que a gente se escondia?”, questiona. “Quem perdeu fui eu, deixando de viver pelo medo do que os outros pensariam.”
Na associação, Dora acompanha de perto os desafios enfrentados por pessoas idosas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade.
“Muita gente volta para o armário na velhice. Tem medo de ir para uma casa de acolhimento e ter que se separar do parceiro, da companheira ou de não ser aceito na própria família.”
Seu sonho é criar uma instituição de longa permanência (ILPI) voltada à população LGBTQIA+, mas com uma proposta diferente da lógica tradicional: “Não é só juntar todo mundo. Tem que ter estudo, escuta, preparo. Não queremos repetir a lógica das instituições tradicionais, que separam casais e invisibilizam as identidades.”
O armário também se reinstala nos lares familiares. Pessoas que dependem de cuidados de filhos, sobrinhos ou irmãos LGBTfóbicos muitas vezes omitem sua orientação sexual ou identidade de gênero para manter o mínimo de apoio material e emocional. Segundo Dora, esse medo de rejeição ou abandono é comum entre os idosos LGBTQIA+ que procuram apoio na Eternamente Sou.
Silêncio como política institucional
Apesar de existirem diversas iniciativas de acolhimento para idosos, poucas contemplam políticas específicas para a população LGBTQIA+. Para o pesquisador Gustavo Henrique Ortiz, autor do artigo de 2023 Reflexões sobre velhices LGBTQIA+ em Instituições de Longa Permanência para Idosos, o Brasil tem cerca de 5 mil ILPIs cadastradas, mas nenhuma voltada à população LGBTQIA+.
Muitas instituições, influenciadas por valores religiosos e conservadores, silenciam identidades não normativas e empurram seus residentes à clandestinidade, com impactos como depressão, solidão e abandono. A falta de políticas públicas inclusivas e a invisibilidade nos dados reforçam esse apagamento.
E, muitas vezes, o silêncio é o próprio dado. Em sua pesquisa de doutorado ainda em desenvolvimento, o gerontologista Diego Félix Miguel tentou mapear a presença de pessoas LGBTQIA+ em ILPIs de diferentes regiões do Brasil, com predominância no Sudeste. Dados preliminares mostram que, das 77 unidades consultadas, apenas 13 afirmaram acolher pessoas LGBTQIA+, somando 16 residentes – seis homens gays, cinco pessoas bissexuais, quatro lésbicas e uma pessoa trans.
Mas o dado mais revelador não estava na planilha, e sim nas respostas evasivas: “Quase nenhuma instituição autorizou o contato. Diziam que a família não permitia, ou então alegavam que a pessoa estava com demência repentina. Só uma deixou a entrevista acontecer”, relata. Para Diego, isso evidencia o quanto o armário ainda é uma imposição institucional.
“Se essa pessoa LGBTQIA+ está em uma casa de acolhimento e não pode contar a própria história, será que ela ainda pode ser quem é? Ou já foi empurrada de volta para o armário?”
Na avaliação do pesquisador, o silenciamento tem raízes profundas, pois a maioria das ILPIs no Brasil nasce a partir de uma perspectiva religiosa, cujos valores fundadores ainda orientam decisões até hoje, segundo Diego. Em um dos casos que acompanhou de perto, profissionais sugeriram a compra de objetos para garantir uma masturbação segura entre os residentes, mas a direção vetou. “Disseram: ‘Isso aqui é uma casa de família.’”
A LGBTfobia, pontua o pesquisador, não parte apenas de cuidadores ou profissionais de saúde. Muitas vezes, vem de outros residentes e, de forma ainda mais perversa, dos próprios familiares de pessoas institucionalizadas.
“Já ouvi casos em que um filho exigiu a retirada de uma mulher trans do quarto onde estava sua mãe, e a instituição atendeu ao pedido. Isso é uma violência.”
Além disso, protocolos e rotinas dessas casas costumam ser pensados com base em uma lógica heterossexual e cisgênera, o que silencia identidades e invisibiliza vivências diversas. Formulários e cadastros perguntam a homens “qual o nome da sua esposa?”, enquanto campanhas de Dias dos Namorados retratam apenas casais formados por homem e mulher, por exemplo.
Segundo Diego, para transformar esse cenário, é necessário capacitar os profissionais para lidar com a diversidade sexual e de gênero; adequar formulários, cadastros e protocolos para contemplar diferentes configurações familiares e identidades; garantir representatividade em campanhas, atividades e ambientes internos; e respeitar nome social e identidade de gênero, inclusive na escolha de quartos e banheiros para pessoas trans, entre outras medidas.
Com passagem pela atenção primária do SUS, onde coordenou uma equipe que participou de capacitações em saúde LGBTQIA+ promovidas pela Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, Diego reconhece que formação técnica, sozinha, não basta. “Todos fizeram o curso, saíram com certificado, mas, na prática, não sabiam como se conectar com a pessoa. O preconceito não muda com PowerPoint. Muda com escuta e empatia.”
A prática da escuta transformadora é algo que Diego tem promovido em oficinas no Convita, centro de convivência para imigrantes italianos idosos onde atua. Em uma dessas atividades, duas mulheres lésbicas foram convidadas a compartilhar suas histórias com um grupo de mães idosas. “Uma das mães ainda resistia em aceitar o filho trans”, conta.
“Mas o neto dela, de apenas 10 anos, sempre corrigia os pronomes. Um dia, ela parou, olhou para ele e disse: ‘Se meu neto consegue entender, por que eu não conseguiria?’”
Essa experiência abriu espaço para o diálogo e ajudou a desconstruir preconceitos, num processo de empatia mútua entre as participantes.
As ILPIS voltadas ao público LGBTQIA+, para além de “aceitarem” essas pessoas, segundo Diego, precisam garantir um ambiente seguro e acolhedor, com profissionais capacitados para lidar com as demandas específicas da comunidade; traçar políticas explícitas de respeito à identidade de gênero e orientação sexual, incluindo o uso correto de nome social e pronomes; se atentar à representatividade nas rotinas, materiais e atividades; e promover a liberdade na escolha dos quartos, da convivência e da expressão de afetos, sem que haja medo de retaliação ou discriminação.
Ele ressalta que o diferencial está em criar uma cultura institucional realmente inclusiva, em que não seja necessário “voltar ao armário” para ser cuidado. Mas ele também acredita que é preciso ir além da criação das ILPIs voltadas ao público LGBTQIA+: “A instituição de longa permanência deve ser o último recurso. Precisamos de moradia digna, rede de apoio, centros de convivência específicos. E um sistema de saúde que acolha e não silencie.”
Velhices trans, existências negadas
A professora e ativista Sara Wagner York, uma das fundadoras do Ambulatório de Identidade Transdiversidade da UERJ, afirma que o apagamento da velhice trans é parte de um processo de exclusão que começa na infância. Expulsa de casa aos 12 anos por “ser bicha demais”, ela foi acolhida por travestis nas ruas e submetida, ainda na adolescência, a um processo religioso de “cura gay”. “O pastor começou uma série de atos de terrorismo psicológico, que hoje a gente chama de terapia de conversão. Mas na época, era só ‘Deus contigo’”, relata.
Mais tarde, engravidou uma mulher num contexto de coerção espiritual. “Meu filho foi retirado da minha presença aos cinco anos. Nunca mais o vi.” Só 15 anos depois, ela pôde reencontrar o filho.
A trajetória de Sara, como de tantas outras pessoas trans, foi atravessada por instituições que deveriam acolher, mas violentaram. “Fui parar em abrigo, fui parar em hospital psiquiátrico, fui parar em centro de atendimento religioso. E sempre com a tentativa de me anular.”
Hoje, ela enxerga que esse apagamento se reinventa na velhice, e por isso a destransição tardia precisa ser problematizada. Segundo Sara, o fenômeno ocorre quando pessoas trans, já na velhice, deixam de expressar sua identidade de gênero e acabam retomando, muitas vezes por imposição social, institucional ou por necessidade de sobrevivência, o gênero que lhes foi atribuído no nascimento.
Isso costuma acontecer em ambientes pouco acolhedores, como instituições de longa permanência ou contextos familiares, onde o respeito ao nome social e à identidade de gênero não é garantido. Para Sara, esse fenômeno não deve ser visto como uma escolha espontânea, mas como resultado de uma vida marcada por apagamentos, violências e falta de condições para viver plenamente sua transgeneridade.
Ela também alerta para a tentação de uniformizar vivências trans, ignorando que muitas trajetórias foram marcadas por institucionalização, pobreza, violência policial e rejeição familiar. “Não é todo mundo que foi trans desde criança, que enfrentou a rua, a polícia, o medo. Isso forma uma história que não pode ser ignorada.”
Uma vida no armário, um amor na velhice
Enquanto Sara traz a perspectiva de uma vivência trans marcada por exclusão desde a infância, outras pessoas só romperam o silêncio na velhice. Fernando Antônio Sandes Carvalho viveu quase sete décadas no armário. Aos 73 anos, conta com lucidez e humor a trajetória de silenciamento e repressão que o impediu de viver sua sexualidade por medo, culpa e pressão familiar. “Minha sexualidade homo ficou lá no baú, no fundo do baú”, diz, ao lembrar do casamento com uma mulher que durou quase 30 anos.
Filho de família católica conservadora, Fernando passou parte da juventude em um seminário, reprimindo seus desejos. “Às vezes, nem dormia se tivesse me masturbado. Morria de medo do inferno.” Anos depois, ao receber um convite para frequentar uma igreja presbiteriana, ele perguntou se aceitavam a homossexualidade. A resposta foi direta: “É pecado”.
Ele decidiu: “Não me interessa, pois essa experiência eu já vivi na pele”, afirmou. Hoje, Fernando busca espiritualidades acolhedoras, como o budismo, que não condenam [as vivências LGBTQIA+]. Em 2007, fez um curso de tantra, que descreve como transformador: “Uma reconexão com o corpo e o prazer, sem culpa ou julgamento.”
Foi apenas durante a pandemia que Fernando criou coragem de assumir publicamente quem era. Aos 69 anos, fez um post nas redes sociais anunciando o fim do casamento e o início de uma nova etapa. “Escrevi que estava me separando da minha esposa por um único motivo: eu realmente sou gay.” A publicação ultrapassou 30 mil visualizações.
Desde então, tem vivido a sexualidade com liberdade e afeto, inclusive em um novo relacionamento. Ainda assim, reconhece que o medo do futuro e da solidão persiste. “Fico preocupado. Quem vai estar comigo quando eu estiver mais velho? Mas meu namorado sempre me lembra que o futuro não existe.”
Depois de décadas de silenciamento, hoje Fernando se define como um homem finalmente livre e lúcido sobre os processos que o impediram de viver plenamente por tanto tempo.
“Me disseram que eu não podia ser quem eu era. Levei quase 70 anos para dizer que sim, eu posso. E posso amar.”
Saúde: acesso, barreiras e resistência
A exclusão na velhice não é apenas simbólica, ela compromete a saúde física e mental, sobretudo quando somada à LGBTfobia. “A solidão pode matar”, diz Milton Crenitte, geriatra e coordenador do Ambulatório de Sexualidade da Pessoa Idosa do Hospital das Clínicas da USP. “Quando a sociedade não garante pertencimento, o envelhecimento se torna ainda mais vulnerável.”
Segundo ele, a falta de acolhimento afeta diretamente o modo como as pessoas acessam ou deixam de acessar o SUS.
“O sistema de saúde ainda é profundamente heterocisnormativo. Há barreiras desde a organização dos serviços até a disposição da pessoa em sair de casa para procurar atendimento.”
Há cerca de dois anos, Crenitte também coordena um ambulatório de promoção à saúde, da Faculdade de Medicina da USP, voltado exclusivamente para pessoas trans com mais de 40 anos, o primeiro do tipo no país. O espaço oferece atendimento físico, psicológico e hormonização, além de atuar na formação de profissionais de saúde. “Os residentes de Geriatria passam pelo serviço e aprendem com a população trans 40+, que é a mais vulnerabilizada. Eles ensinam muito, e quem acompanha aprende na escuta”, resume.
No interior de São Paulo, um projeto similar presta assistência exclusivamente a pessoas LGBTQIA+ com mais de 60 anos. Criado em agosto de 2023, o ambulatório coordenado pelo geriatra André Fattori na Unicamp acolhe atualmente 28 pacientes, em sua maioria homens gays, mas também mulheres lésbicas e pessoas trans, de acordo com André. “Recebemos muitos sobreviventes da epidemia de HIV dos anos 1990, com sequelas do tratamento. Também vemos quadros de depressão, ansiedade e déficit cognitivo agravados pelo isolamento social e pela exclusão familiar”, relata.
Além das barreiras individuais, o serviço enfrenta limitações estruturais: muitos usuários moram longe e têm dificuldade de transporte, ou não retornam por medo do julgamento familiar. “Todo posto de saúde deveria atender a população LGBTQIA+ com respeito e empatia, mas como não acontece, o ambulatório é necessário”, diz.
Uma das primeiras pacientes do serviço é a aposentada Dora Ferreira da Rocha, de 83 anos. Mulher trans desde os 14, ela passou a vida dizendo que era mulher, e nunca foi questionada. “Sou Dora desde menina. Nunca me escondi, enfrentei tudo de cabeça erguida. Trabalhei como gerente geral de recursos humanos, chefiando até 16 filiais. E ouvi muita coisa só por ser quem sou.”
Apesar da longa experiência profissional, Dora diz que, mesmo com plano de saúde privado, quase nunca foi respeitada nos atendimentos. “Me trataram com frieza, me chamaram de ‘senhor’, perguntaram se eu tinha acompanhante. Era como se eu fosse invisível.” O cenário mudou quando começou a ser atendida no ambulatório da Unicamp. Lá, ela se sente acolhida.
“Um dos médicos andou comigo 600 metros pelo hospital só para me animar. Eles me tratam com respeito, escutam minha história, cuidam de mim como gente.”
Hoje, Dora mora com o companheiro, com quem está há 50 anos. Recentemente, após sofrer uma queda e fraturar duas costelas e a coluna, foi forçada a se mudar para uma casa menor e mais precária por decisão de familiares. Mesmo diante da violência, ela mantém o humor afiado e a vaidade: “Não falo com ninguém sem passar batom e botar brinco. Como dizia minha mãe: quem não se enfeita, por si se enjeita.” E arremata: “Quando disserem que você não pode, é aí que você pode!”