Com a filha nos braços, Marina* chegou sem fôlego. A pequena Raquel*, prestes a fazer quatro anos, dormiu durante todo o percurso no ônibus que seguia de Pernambués para a Mata Escura, dois bairros populares de Salvador. Marina, aos 18, parece mais velha – talvez mais pela atitude maternal do que pela aparência física em si.
(Projeto Colabora, 02/04/2018 – acesse no site de origem)
Ela saíra da casa onde mora e encontrou a reportagem do #COLABORA no local onde viveu por dois anos: a Casa Lar, abrigo para meninas em situação de violência da Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão (Acopamec), uma entidade católica. Marina fora uma dessas vítimas de violência.
Da agressão que sofreu, nasceu Raquel. Por diversas vezes, quando tinha 13 anos, Marina foi estuprada pelo próprio padrasto. Aos 14 anos, teve a filha, já no abrigo. De acordo com o Código Penal, ela foi vítima de estupro de vulnerável, que está descrito no artigo 217. Pela lei, qualquer contato sexual envolvendo adultos e menores de 14 é crime. Mesmo que a vítima tenha ‘consentido’, “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso” é considerado estupro e pode levar a uma pena de oito a 15 anos de reclusão.
Marina poderia ter feito o aborto legal. O problema é que ela nunca soube que tinha esse direito.
Marina nasceu no Rio de Janeiro (RJ). Viveu na cidade com a mãe, Carolina*, até os três anos, quando foi entregue à avó materna, que morava em Caruaru (PE). Naquela ocasião, a mãe viera para a Bahia, com a esperança de conseguir um emprego em Salvador.
A menina ficou com a avó até os sete anos. Quando a avó faleceu, Marina foi para a casa de um tio, ainda na cidade pernambucana. Lá, sofreu a primeira violência sexual. Aos 9 anos, foi vítima de um abuso sexual cometido pelo cunhado do tio. Na época, fugiu de casa e foi parar em um abrigo, onde ficou até os 12 anos.
Enquanto isso, na Bahia, sua mãe parecia estar com a vida relativamente em ordem. Carolina tinha recebido ajuda de um projeto social de uma igreja no bairro da Calçada, onde morava. Com ajuda de educadores sociais, conseguiu localizar a filha em Pernambuco. Aos 12 anos, Marina voltou, finalmente, a morar com a mãe.
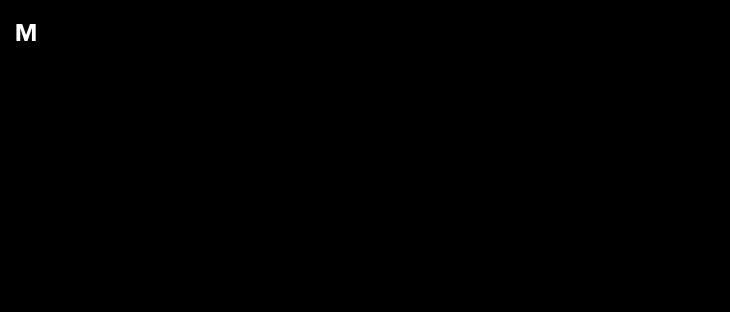
Só que a mãe não estava mais sozinha. Carolina tinha um companheiro agora, que viria a ser padrasto de Marina. Era um homem de mais de 50 anos que trabalhava como guardador de carros. “Eu estava me sentindo uma estranha porque não reconhecia minha mãe, nem tinha aquele amor de filha, porque eu não lembrava dela. Quando ela me deixou, eu tinha três anos. Era como se estivesse numa casa de estranhos”, conta Marina.
Agora, a menina que nunca tivera um pai contava com uma figura paterna em casa. E mais: uma figura que lhe dava atenção, que trazia presentes, que a levava ao estádio para assistir a jogos de futebol. Era alguém que buscava aproximação. Marina não imaginava que, no fundo, a intenção dele era outra. Não fazia a menor ideia de que todas aquelas ações eram uma prévia dos estupros que viriam. E logo vieram.
Com medo, se calou. As lembranças do abuso anterior, ainda criança, a perseguiam. Naquela primeira vez, o estuprador a ameaçava com uma faca. Por isso, o pensamento que pairava era de que não sabia o que o padrasto seria capaz de fazer se ela tentasse avisar a alguém sobre o que acontecia.
Soube que estava esperando um bebê quando a gestação chegou aos três meses. “Eu fiquei desesperada. Não sabia o que fazer. Até imaginei o aborto, mas vi na internet quais poderiam ser as consequências e resolvi ter minha filha”. Marina acreditava que a única opção de aborto era o clandestino. Não tinha amigos, não tinha orientação. Não tinha família. Nada.
O agressor, ao perceber que a barriga da menina crescia, comprou medicamentos, deu chás. Ela tomou; nada funcionou. Nesse mesmo período, sua mãe tinha sido presa. Ainda que não tivesse mais ligação com o tráfico de drogas, ela tinha uma prisão preventiva decretada. Passou 30 dias no Conjunto Penal Feminino, na Mata Escura.
Quando voltou, percebeu que a filha estava grávida. No início, achou que era de algum ‘namoradinho’. Depois, quando descobriu que era um filho de seu companheiro, passou a culpar Marina. “Foi muito difícil pelo que passei e pelo que aconteceu, de ela escolher ficar do lado dele. Até hoje, digamos que ela me culpa. E eu já soube que eles estão juntos, muita gente me falou. Já conversei com ela sobre isso, mas ela sempre nega”.
Aos seis meses de gestação, Marina chegou à Casa Lar, pelas mãos da psicóloga do projeto, que conhecia sua mãe através do projeto social na Calçada. Nunca houve denúncia à polícia, embora a maioria dos casos que chegam ao abrigo sejam de adolescentes encaminhadas pela Justiça ou por conselhos tutelares.
Lá, teve Raquel. Lá, as duas viveram até que a menina completasse dois anos. Nessa época, Marina voltou a morar com a mãe. Com a ajuda dos educadores sociais e da psicóloga da entidade, as duas começaram a fortalecer o vínculo que tinha se perdido tão cedo.
No entanto, no início do ano passado, Marina deixou a casa da mãe. Foi viver com o namorado, que tem 24 anos e trabalha como auxiliar de serviços gerais e barman. “Saí de casa porque ela ficava jogando na minha cara o que aconteceu”, afirma a jovem, com um tom de mágoa.
Diz que Raquel é o amor de sua vida. A menina não sabe da história da mãe, nem tem contato com o pai biológico. Para sustentar a filha, Marina, recebe o Bolsa Família no valor de R$ 160, mas não é suficiente. Ela ainda não trabalha e vai começar, em 2018, o primeiro ano do Ensino Médio. Já pensou em colocar o agressor na Justiça para o pagamento da pensão, mas ainda não seguiu em frente. Ela explica que é doloroso.
Mesmo assim, espera dias melhores. Marina sonha em ser infectologista. Diz que ‘gosta dessas coisas’. Afirma que, quando chegou em Salvador, não era feliz. “Hoje é que estou começando a viver”.
A psicóloga da Casa Lar, Nevidalva Santos, que acompanha Marina até hoje, explica que a moça escondeu a gravidez até o sexto mês de gestação. “Ela realmente não tinha ninguém. Quando teve condições de verbalizar que estava grávida, já era uma gestação avançada. Depois que chegou aqui, tivemos pouco tempo para correr atrás das coisas, fazer exames, essas coisas”, explica.
No início, Marina também não via o agressor como o que de fato era – um estuprador. Quando chegou ao abrigo, se apegava às boas memórias, daquele pai que nunca tivera antes. “Além disso, ela veio morar em uma comunidade católica. Muitas vezes, a religião impede que se busque o aborto legal. Tudo isso é cultural, passado de geração em geração”.
Nevidalva sempre pergunta como é a relação de Raquel com o namorado da mãe. Agora, é a menina que tem um padrasto. “Sempre digo a Carolina*: agora é Raquel, não é mais Marina”, conta, referindo-se às conversas com a mãe da jovem.
Ao #COLABORA, Marina reforçou que a segurança da filha é sua prioridade, mas elogiou a relação da menina com o companheiro. Acredita que os dois têm uma ligação forte, talvez maior do que se fossem realmente parentes. “Eu sei o que passei e não quero que minha filha passe por isso”.
*Os nomes são fictícios
Veja a série completa clicando aqui
Thais Borges




