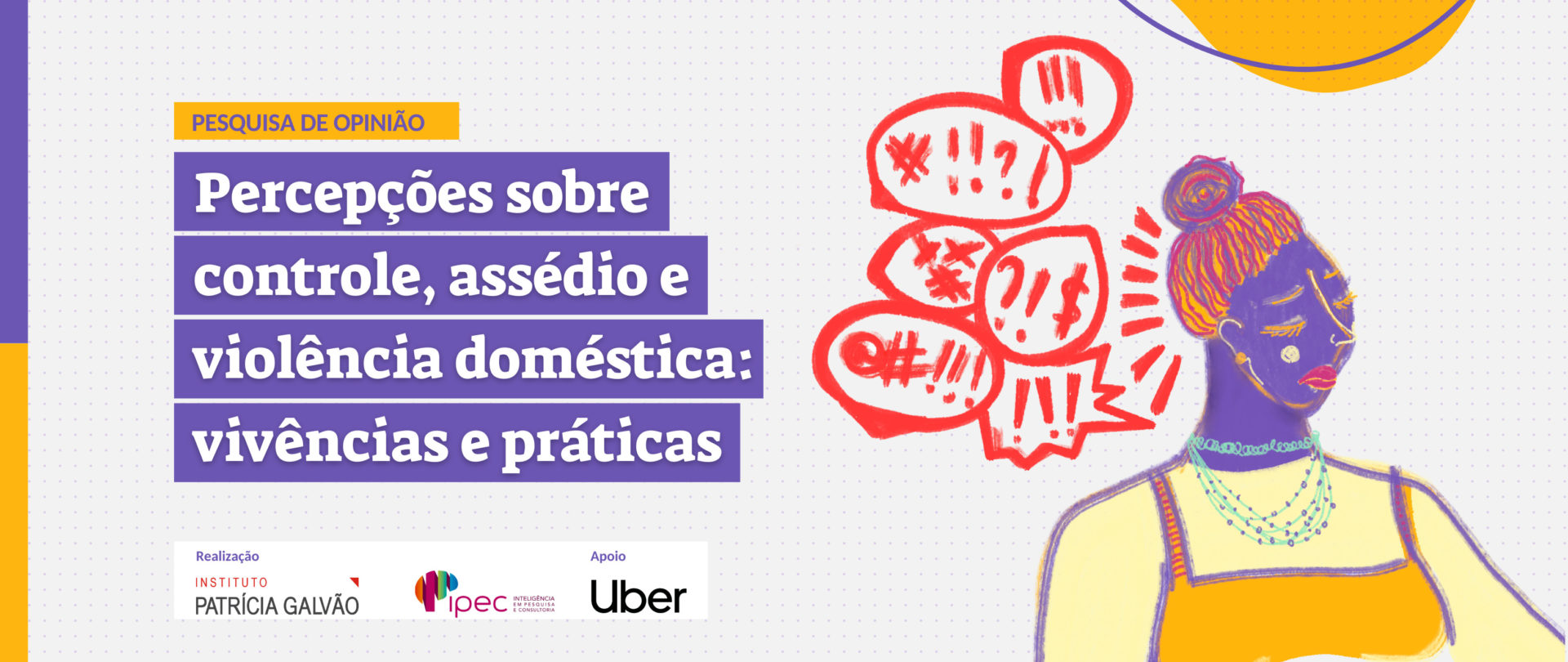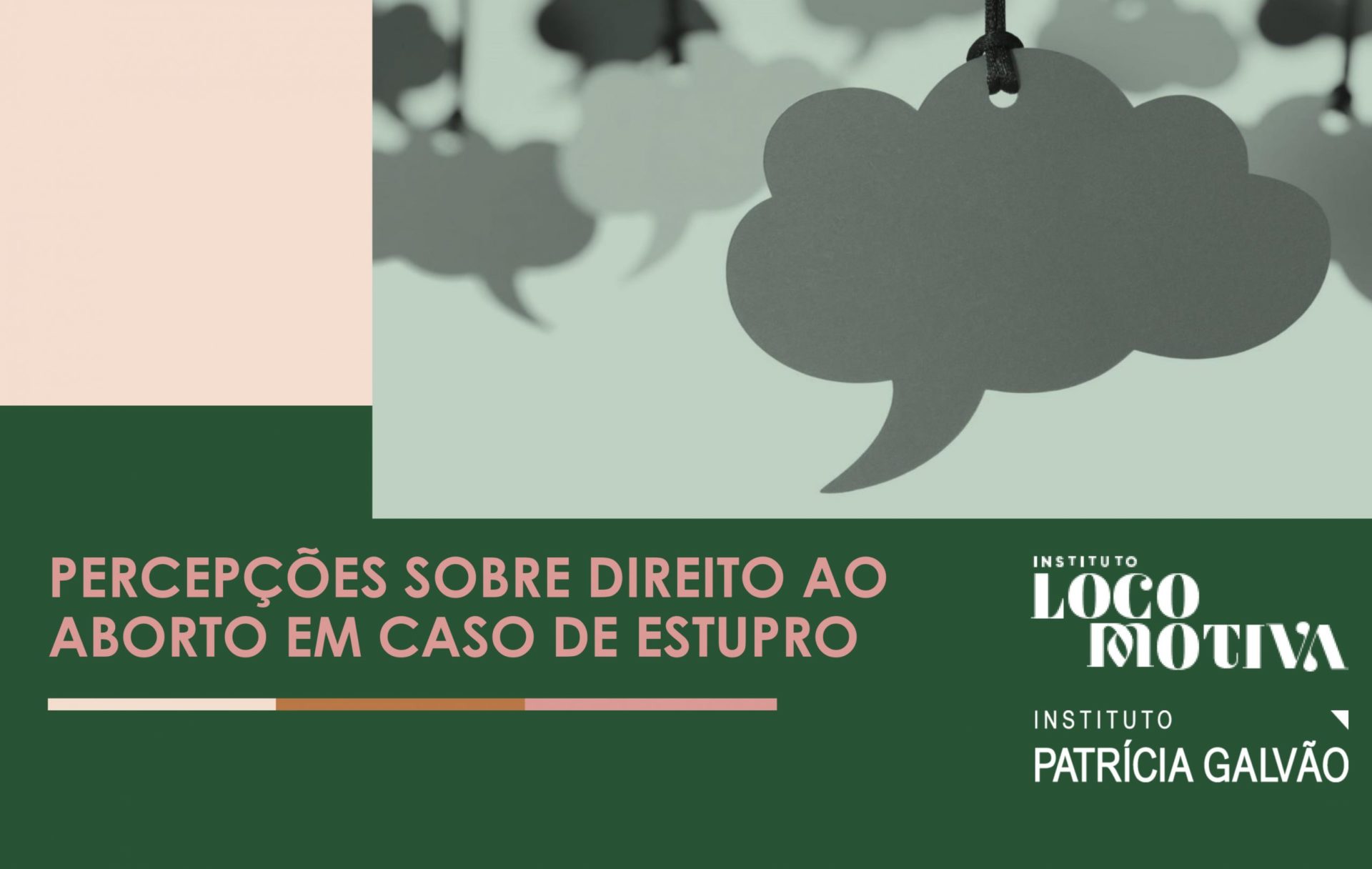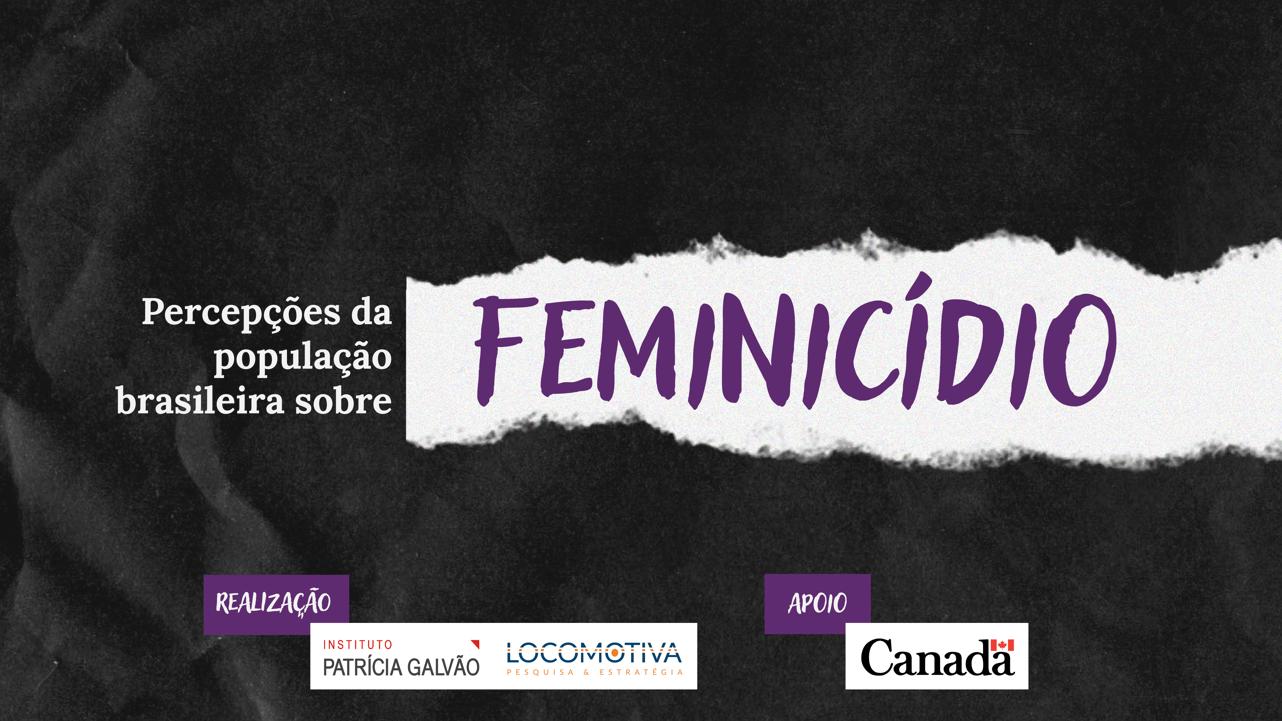Mulheres indígenas e negras são mais afetadas pela crise do clima, mas seguem invisíveis nas bases de dados.
A crise climática não é vivenciada da mesma forma e intensidade por todos os habitantes do planeta, embora ainda não haja nação que possa fugir de seus efeitos. Os países do Sul Global há tempos martelam no debate internacional que suas populações são desproporcionalmente afetadas pelas mudanças no clima, embora contribuam menos para sua ocorrência.
A vulnerabilidade socioeconômica e política traduz-se, afinal, em vulnerabilidade ambiental. Proteger-se de inundações, incêndios e períodos prolongados de seca ou de chuva, por exemplo, envolve o investimento de recursos para a prevenção desses acontecimentos, a adaptação de territórios para a redução de danos e a pronta assistência às vítimas. Envolve também posicionamentos estatais fortes contra as forças extrativistas do Norte Global.
Mas não é apenas a nível mundial que existem essas diferenças. As desigualdades dentro de um mesmo país ou região são amplificadas pela crise climática, que agrava a precariedade social e financeira de grupos historicamente marginalizados.
É o caso, no Brasil, das mulheres negras e indígenas. Com os piores índices de moradia digna, de violência, de acesso à renda e à saúde, entre tantos outros indicadores, esses dois grupos ainda sofrem o revés de serem os principais responsáveis pelo trabalho de cuidado, o que envolve tanto a lida com a natureza em territórios tradicionais e rurais quanto as atividades domésticas não remuneradas, seja no campo ou nas cidades.
As atividades extrativistas – assim como as mudanças climáticas – rompem os ciclos do trabalho reprodutivo, historicamente a cargo das mulheres. São elas que garantem a soberania alimentar, plantando e colhendo para consumo interno e familiar – embora raramente sejam donas de terras – e que adentram as matas em busca de ervas para fins medicinais, por exemplo.
O livro Corpos, territórios e feminismos, um compilado de artigos sobre a resistência das mulheres originárias da América Latina ao extrativismo, reforça a ligação delas com os territórios onde vivem, reconhecendo “o protagonismo daquelas que sempre lutaram pela vida”.
No primeiro artigo do livro, Extrativismo e (re)patriarcalização dos territórios, os autores explicam esse rompimento: “os rios se contaminam, os solos deixam de produzir, o desmatamento expulsa os animais da floresta, e, como consequência, o abastecimento de alimentos das comunidades por meio das atividades tradicionais, como a caça, a pesca e os cultivos, é gravemente afetado”.
Assim, os homens deixam de lado a caça e a pesca, sua contribuição para o trabalho de cuidado, para tornarem-se operários mal-pagos, agravando a “feminização dos trabalhos de reprodução social”. Além disso, ressaltam os autores, os impactos socioecológicos do extrativismo – e, acrescentamos novamente, da crise climática de forma geral – impactam fortemente os trabalhos de cuidado exercidos pelas mulheres.
“São elas as que devem enfrentar as crescentes dificuldades para acessar as fontes de água limpa ou para garantir a alimentação familiar. Da mesma forma, a disseminação de doenças e deterioração da saúde coletiva, resultado das dinâmicas extrativistas, provocam uma necessidade crescente de cuidados na população, cuja responsabilidade é atribuída às mulheres”, lê-se no artigo.
A ligação entre mulheres e território ganha ainda outra dimensão ao encararmos que a violência contra um implica necessariamente na violência contra o outro. São elas também, no fim das contas, que lideram a batalha contra o extrativismo, as queimadas e os megaprojetos que destroem ecossistemas; e que sofrem grande parte da violência que se volta contra os povos que defendem seus territórios.
Os autores do artigo prosseguem:
“Nesse contexto, tanto a Natureza como os corpos, notadamente os das mulheres, aparecem como espaços coisificados, apropriáveis e sacrificáveis para serem disponibilizados à acumulação do capital”.
Em contextos urbanos, vive-se outra faceta da ausência de justiça climática, também muito sentida no campo: a falta de acesso ao saneamento básico – que inclui acesso contínuo à água potável, descarte adequado de lixo e uma rede abrangente e eficaz de tratamento de esgoto. Novamente, são as mulheres negras e indígenas as maiores afetadas.
Nos bairros majoritariamente ocupados por ela, muitas vezes não basta abrir a torneira para lavar a louça, fazer comida ou encher os baldes de limpeza. É preciso correr atrás da água inúmeras vezes por semana, aumentando as horas de trabalho não remunerado. É necessário viver com os males causados à saúde e ao meio ambiente pela queima de lixo onde os serviços de coleta municipais não chegam, onde os rios e ruas são contaminados pelo esgoto.
Tudo isso evidencia a urgência de se pensar políticas públicas voltadas à garantia da justiça climática para mulheres negras e indígenas. Contudo, os efeitos da emergência global que vivemos sobre essas pessoas continuam sendo tratados como problema menor nos fóruns de discussão e decisão sobre o tema, local e internacionalmente.
A ver se será o caso da COP30, que ocorrerá em novembro deste ano em Belém do Pará. De todo modo, boas políticas públicas dependem de dados de qualidade, que permitam avaliar como e onde é preciso agir. E, quando o assunto é mulheres negras, indígenas e justiça climática, os dados simplesmente não são coletados e cruzados.
Quer saber quantas mulheres são afetadas pelas queimadas que vêm consumindo nossas florestas e pelo desmatamento que as derruba? Novamente, boa sorte. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) monitora onde e quando ocorrem queimadas, e o MapBiomas Alerta nos permite ver quantas notificações de desmatamento foram feitas em determinado período e região. Entretanto, não há nenhuma base de dados pública com informações sobre gênero e raça dos locais afetados.