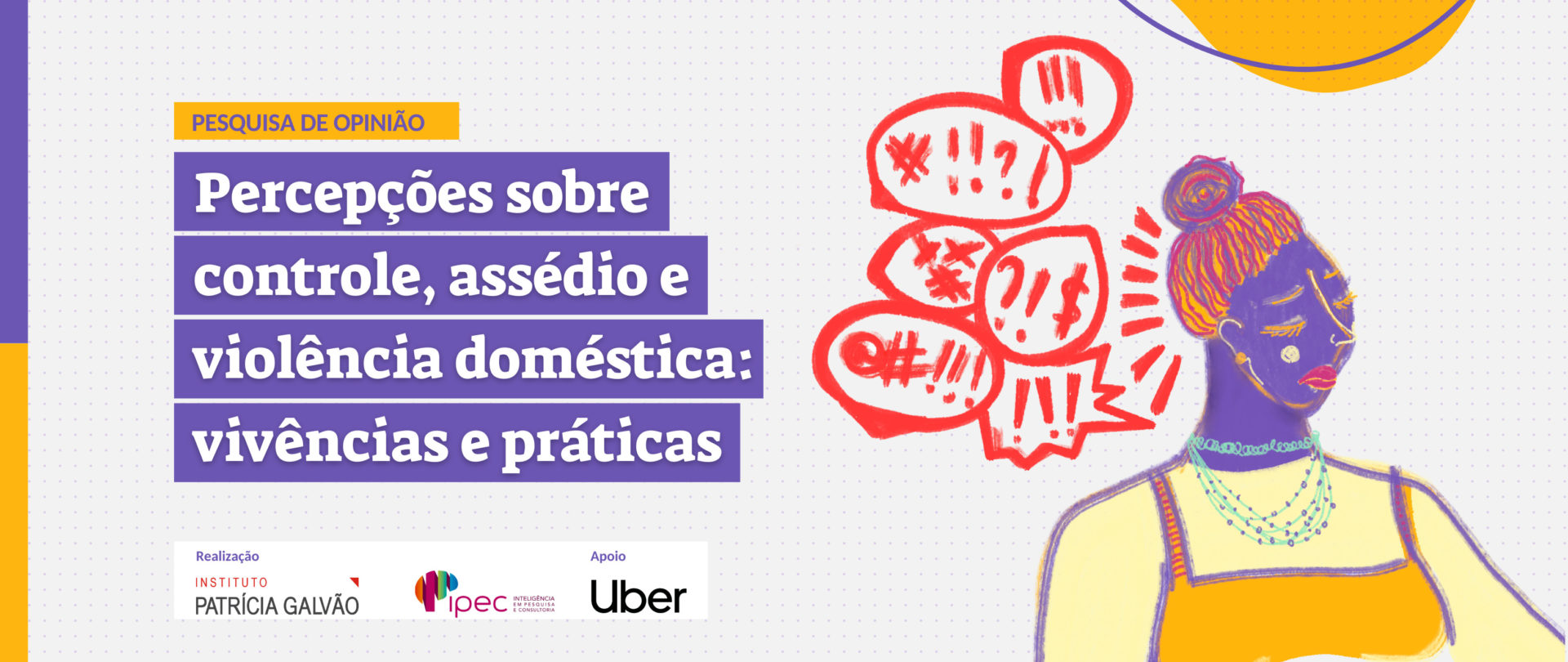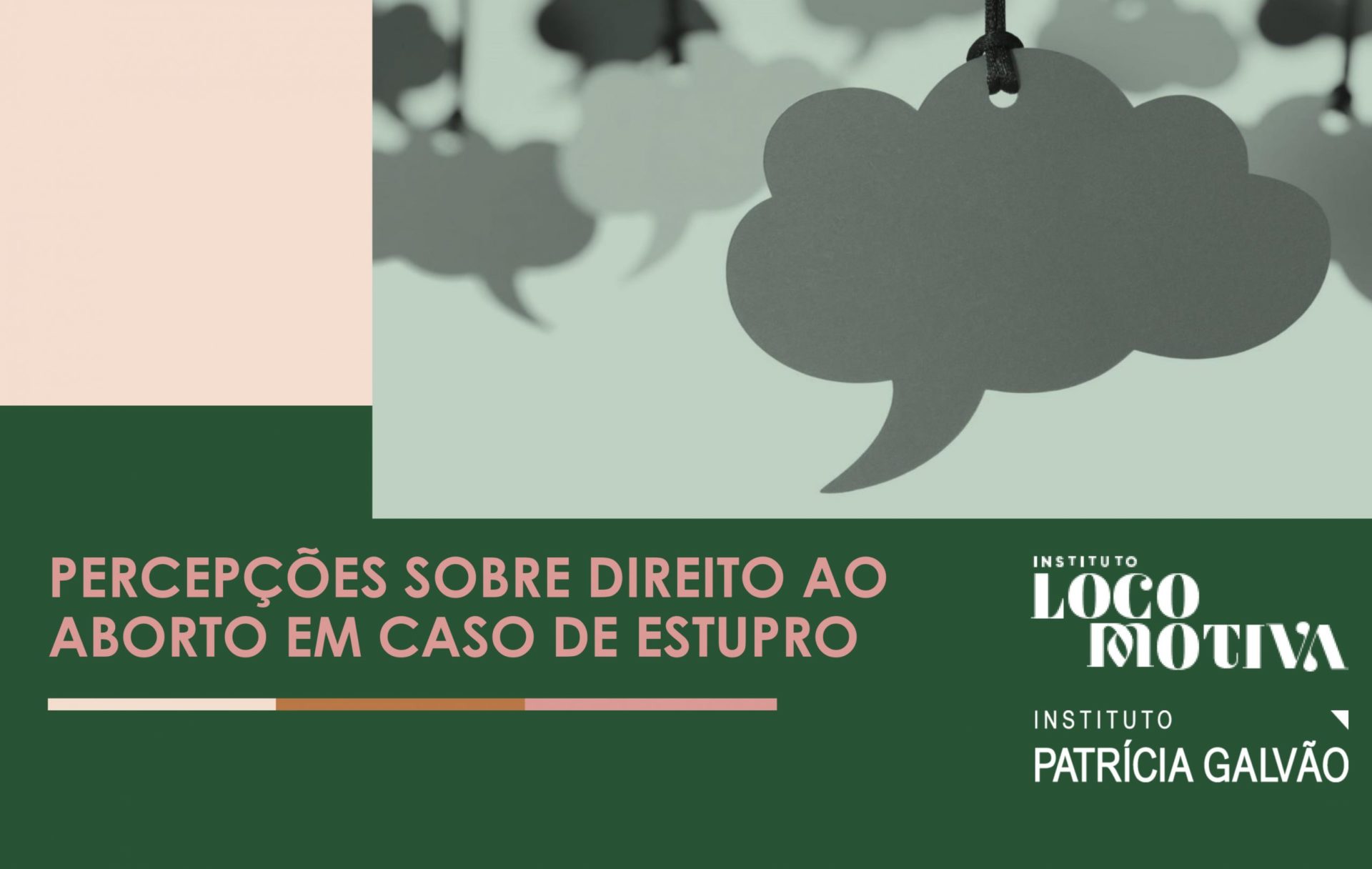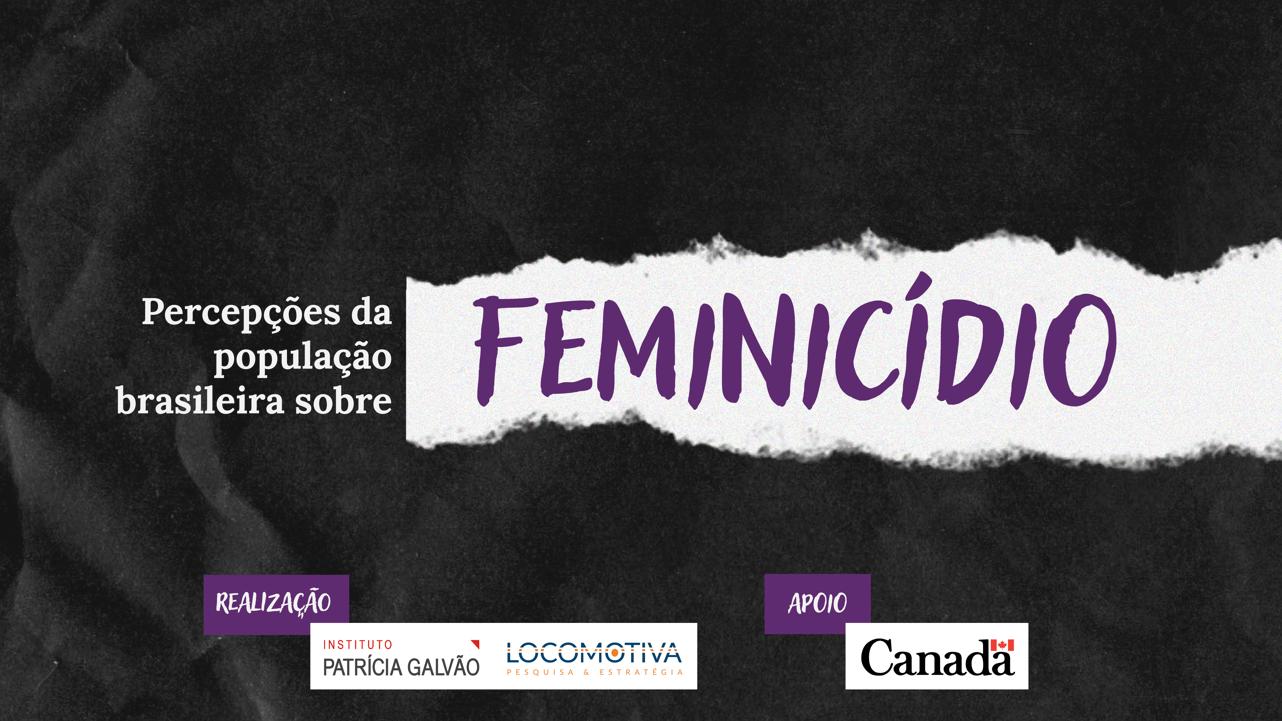Essas são as demandas de lideranças negras e quilombolas para a conferência que ocorrerá em Belem do Pará em novembro.
A água, que antes corria farta entre as margens do rio Jiquiriçá, em Mutuípe, no interior da Bahia, hoje se arrasta em filetes. As nascentes estão poluídas, a seca avança, e o que era correnteza virou apenas memória da infância de Damiana Martins, uma das 20 mil moradoras do município onde quase todo mundo vive do plantio de cacau.
Mutuípe fica no Recôncavo Baiano — no estado mais negro do país, a Bahia, o Recôncavo têm municípios com mais de 50% de população preta, e, durante os séculos 19 e 20 concentrou a maior parte das comunidades formadas por pessoas escravizadas que fugiram do regime colonial, quilombolas.
Nascida em uma família de mulheres negras e agricultoras, Damiana fundou a primeira cooperativa do vale do Jiquiriçá: a Associação de Mulheres da Comunidade de Duas Barras do Fojo (AMCDBF). Hoje, são 40 integrantes — todas mulheres, chefes de família, que colhem cacau e transformam o fruto em chocolate orgânico: em pó, em barras, em dignidade.
“O Vale do Jiquiriçá é o nosso umbigo. Quando o rio seca, a gente seca junto”, explica Damiana.
Parte da produção é vendida à cooperativa Duas Barras do Fojo e outra às fábricas europeias que compram cacau para a produção de chocolate, como a Callebaut. Tudo passa pelas mãos delas: da amêndoa ao mel de cacau. Mas, nos últimos anos, perceberam algo grave — as lavouras perderam em produção e qualidade na mesma medida em que o rio Jiquiriçá foi adoecendo.
“Os rios estão morrendo, e com eles morremos nós”, diz Damiana, lavradora e ribeirinha. “Sem água, não há cacau. Sem cacau, não há comida, não há vida. E, quando a gente fala de vida, está falando das mulheres que sustentam tudo isso.”
Damiana se formou em Biologia na Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) e se especializou em sistemas de plantio agroflorestais. “Quis estudar para ensinar minhas camaradas”, conta. É dela a ideia do SOS Vale do Jiquiriçá, projeto que busca recuperar nascentes, conscientizar agricultores e criar alternativas sustentáveis para o cultivo.
Agora, prepara as malas para a COP30, onde pretende cobrar das lideranças brasileiras um compromisso real com os rios e com as mulheres do interior da Bahia. “Não consegui um espaço para mostrar as minhas ideias, mas vou colocar o SOS Vale do Jiquiriçá debaixo do braço e apresentar a todo político e empresário com que conseguir conversar na COP”, afirma. Ela tem esperanças que alguém a apoie a preservar os mananciais da sua terra.
“A gente não quer só salvar o rio. Quer salvar o que ele significa.”
Nos últimos cinco anos, 445 projetos de lei que citam comunidades ribeirinhas tramitaram pelo país — 73 no Congresso Nacional, 361 nas assembleias estaduais e 11 nas câmaras municipais monitoradas pela agência de dados Inteligov. Quase todos falam de proteção, mas poucos falam de permanência. Em muitos deles, as comunidades aparecem como nota de rodapé, não como protagonistas das políticas ambientais.
A mulher e a palmeira em pé
Enquanto Damiana tenta proteger o rio, Kleydiane Ferreira Sousa luta pelo direito à sua terra. Professora, quebradeira de coco e quilombola, ela vive na comunidade Monte Alegre, no Maranhão — onde mais de 300 famílias sobrevivem do extrativismo do babaçu, da roça, da caça e da pesca. “Aqui é minha terra, é o meu lugar. Nenhum outro canto do mundo me completa como aqui”, diz, com a firmeza de quem nunca se permitiu duvidar do próprio chão.
Sua relação com Monte Alegre foi herdada de outras mulheres: a bisavó nasceu ali; a mãe, dona Dijé, cresceu entre os babaçuais e fundou a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais e Quebradeiras de Coco (AMTQC). Kleydiane cresceu ouvindo o som seco das marretadas no coco e o sussurro político das assembleias que dona Dijé organizava em casa. Hoje, é coordenadora-geral da associação — 46 mulheres unidas pela Lei do Babaçu Livre, que garante o direito de circular e trabalhar sem cercas, sem envenenamento dos palmeirais, sem medo.
“Quando uma mulher negra, liderança e quilombola diz que o lugar dela não é a cozinha, e sim onde ela quiser estar, o preconceito aparece”, afirma. Mesmo diante do racismo e do machismo que a cercam, ela segue: coordena reuniões, produz azeite, ensina a quebrar e quebra o coco — um gesto ancestral que sustenta sua casa, sua comunidade e faz girar uma economia invisível aos olhos do restante do país.
Em Monte Alegre, o conflito agrário é constante. O território quilombola, que deveria ser comunitário, sofre pressão de fazendeiros e da lógica do agronegócio.
“Querem nos convencer de que só quem tem cerca prospera. Mas nós não queremos cerca. Queremos liberdade”, diz a agricultora, que acredita na luta coletiva para a preservação dos palmeirais e da comunidade que mantém as tradições para a extração de óleo de babaçu viva.
Kleydiane lembra da sua própria infância quando relata que sonha em voltar a tomar banho no igarapé sem medo, em ver os filhos estudando e cuidando da mesma terra. “Meu sonho é simples”, diz. “Não quero enriquecer. Quero viver bem daqui, dessa terra.”
O território é sua casa e sua luta. “Para muitos, o ouro está no gado. Para mim, o ouro está no babaçu.” A frase, repetida como mantra, explica tudo: a floresta é economia, o coco é resistência, o trabalho é a herança que ela pretende deixar para as novas gerações.
“A palmeira em pé é a mulher em pé. Se o babaçu cai, a gente cai junto”, diz Kleydiane.
“Nos chamam de zona de sacrifício”
É com essa frase que Vanuza Cardoso, liderança política e espiritual do Quilombo do Abacatal, define o lugar onde vive há gerações, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. A comunidade, com mais de 315 anos de história oral, hoje está cercada por grandes empreendimentos — aterros sanitários, conjuntos habitacionais, subestações de energia e, mais recentemente, pela Avenida Liberdade, um projeto urbano que começou a ser construído há mais de uma década e foi retomado às pressas no contexto da COP30.
Segundo Vanuza, que também é uma das coordenadoras da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), a construção da avenida exigiu o desmatamento equivalente a 100 campos de futebol e representa mais um capítulo de racismo ambiental: a imposição de projetos de infraestrutura em territórios tradicionais, sem consulta prévia, livre e informada às comunidades afetadas.
“Esses empreendimentos chegam sem ouvir a comunidade, sem permitir que ela diga não. Isso é racismo ambiental. A gente vive cercado e ameaçado dentro do nosso próprio território”, diz Vanuza.
O Abacatal está agora a um quilômetro da nova via, mas a obra cortou a única estrada de acesso à comunidade. A liderança questiona: “Que ambiente o Estado está defendendo? O ambiente urbano ou o nosso território?”.
Embora o governo do Pará tenha autorizado a realização do Estudo de Componente Quilombola (ECQ) e do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ), etapas obrigatórias previstas no licenciamento ambiental, Vanuza explica que esses instrumentos não substituem a consulta prevista na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que visa garantir o direito de participação para povos indígenas e quilombolas nas tomadas de decisões do estado que os afetem.
“Isso não é consulta. O ECQ e o PBAQ são partes do levantamento ambiental, mas não significam que a comunidade concordou. São estudos técnicos, e o Estado trata como se fosse um acordo, mas não é.”
O PBAQ, lembra ela, foi elaborado com sugestões de mitigações e compensações — medidas que deveriam ser implementadas durante a execução do empreendimento. Mas, segundo a liderança, nenhuma delas saiu do papel.
“As obras estão quase concluídas, e as compensações não chegaram. A mitigação tem que acompanhar a construção, mas o Estado não cumpre. A gente denuncia, tenta dialogar, mas o retorno é mínimo.”
Para Vanuza do Abacatal, o que está em jogo vai muito além da obra da Avenida Liberdade. É o direito de existir em um território quilombola ameaçado por políticas urbanas que priorizam a expansão da cidade sobre os modos de vida tradicionais.
“A COP30 chega com o discurso da floresta em pé, mas na contramão da defesa dos territórios. Estão desmatando e expulsando comunidades para mostrar desenvolvimento”, critica.
A expectativa dela — e de tantas mulheres negras que vivem na Amazônia — é que a conferência internacional sirva para revelar essas contradições. “Queremos ser ouvidas. Que entendam que as comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas são parte da solução climática, não um obstáculo. Se o Estado quer falar de sustentabilidade, tem que começar garantindo nosso direito de permanecer no território.”