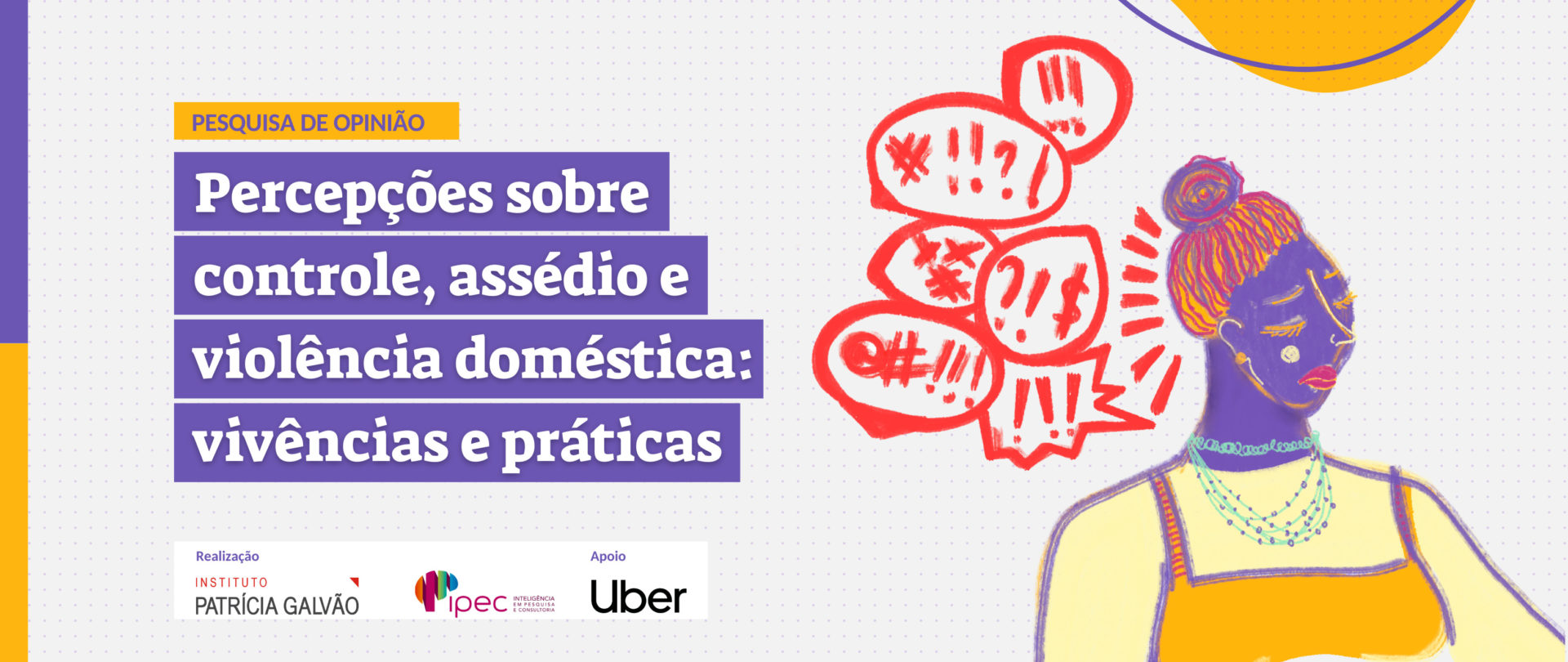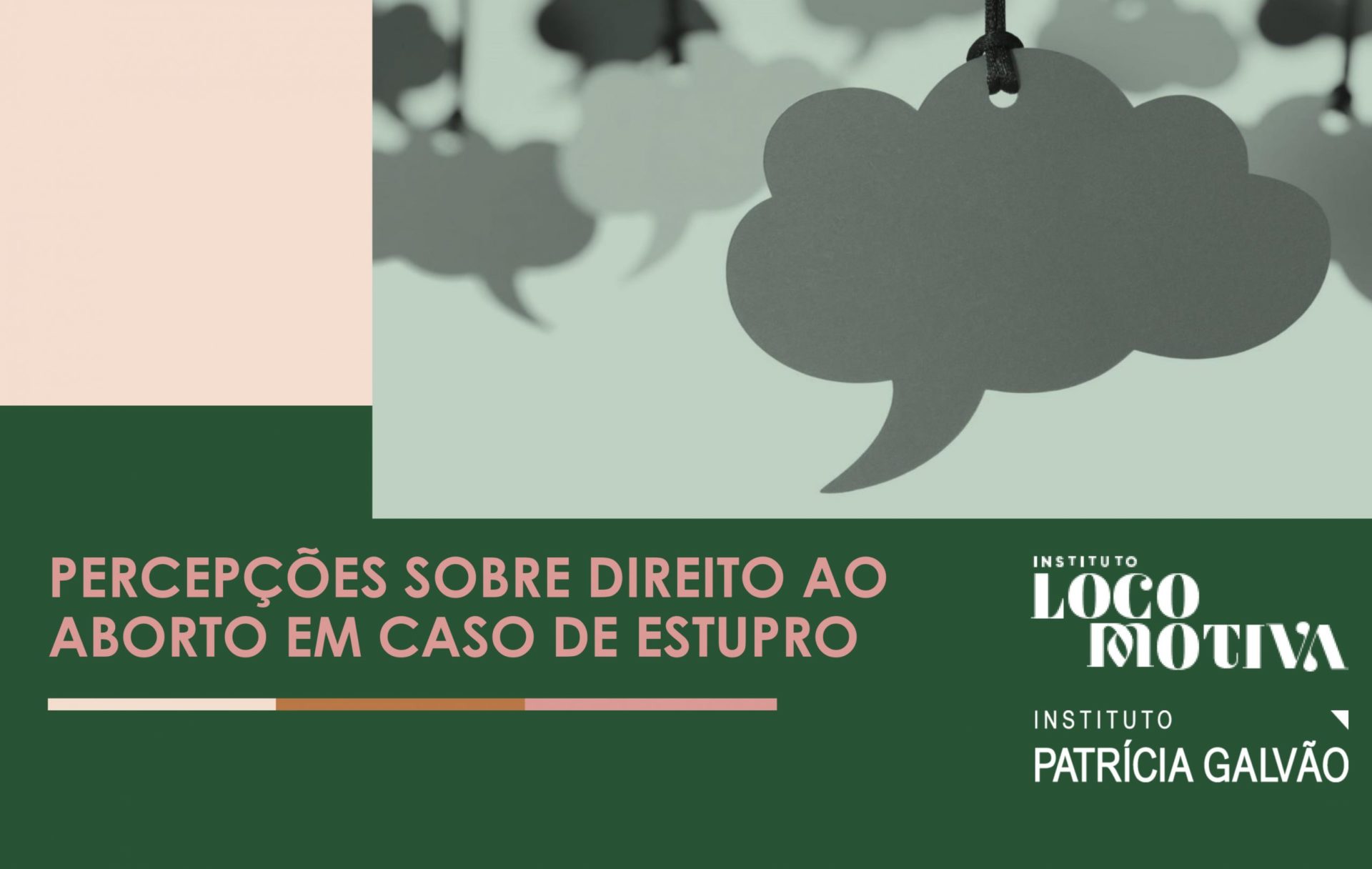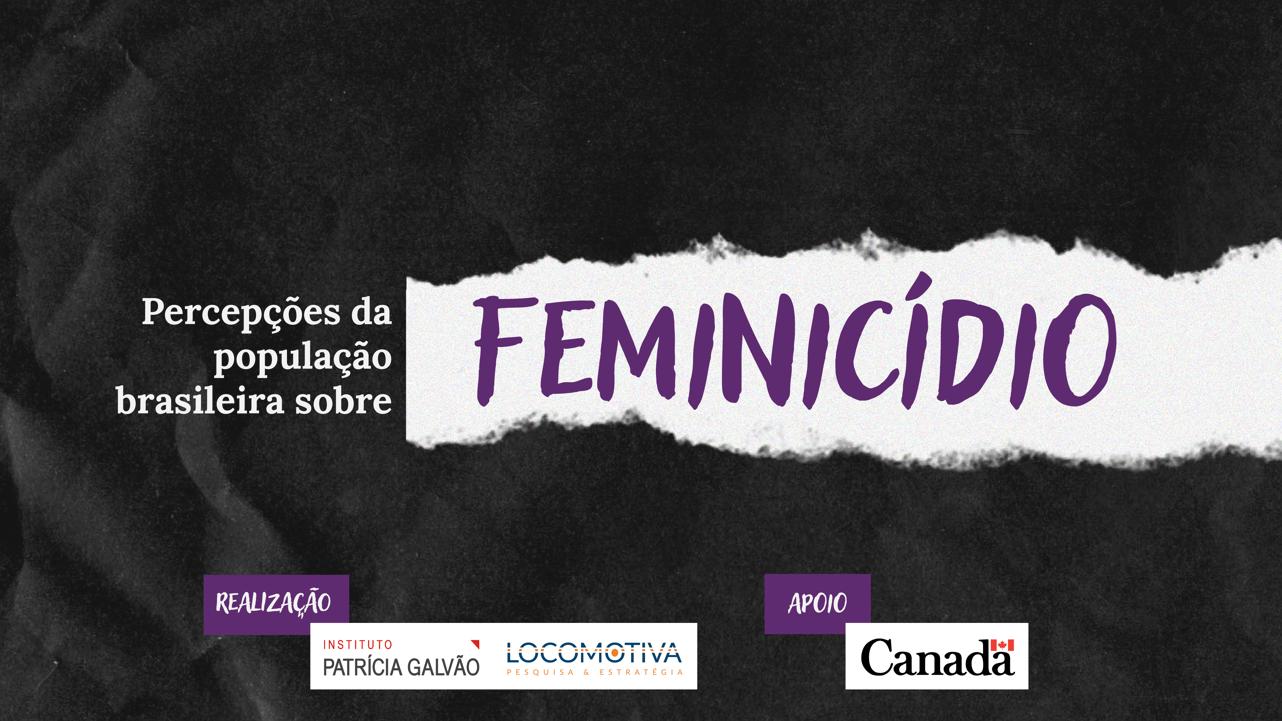Disputa sobre quem é negro não começou nas redes, mas ganhou novos contornos com a ‘parditude’. Vamos refletir sobre o tema e ouvir a socióloga Flávia Rios?
Não é de hoje que rola uma discussão sobre pessoas pardas fazerem ou não parte do movimento negro. De tempos em tempos, o assunto reaparece, mesmo que com outras roupagens. Recentemente, essa discussão voltou com força nas redes sociais. E foi impulsionada pelo “parditudes”, conceito que separa pretos e pardos, focando nas pessoas mestiças e é muito disseminado por pessoas que se tornaram personalidades no meio digital (acadêmicas ou não).
O debate sobre mestiçagem e identidade racial é antigo, passa pela época do mito da democracia racial, do apagamento indígena e de movimentos nacionalistas de linha conservadora. Muitas mulheres negras e indígenas, intelectuais, ativistas e militantes já deram sua contribuição sobre a questão do pardo.
Não poderia escrever sobre esse tema sem olhar para a trajetória desses movimentos e boa parte do que escrevo aqui é fruto de uma entrevista com a professora e pesquisadora Flávia Rios, que você lê logo abaixo.
Nos anos 60 e 70, o movimento negro brasileiro pautou o problema da integração de uma parte da população que, no período pós-abolição, foi colocada às margens da sociedade, sofrendo com problemas econômicos e de violência estatal. Na busca por unificar essas pessoas em torno de uma categoria sociopolítica, uniram os grupos que mais sofriam: pretos e pardos.
Ser negro é fazer parte de uma categoria social historicamente marginalizada, em que a cor de pele é um dos fatores, mas também classe, ancestralidade e território.
Identidade é construção e política
Claro, nem toda pessoa parda se identifica como negra — e tudo bem. Assim como existem pessoas pretas que também não se reconhecem no movimento negro. Identidade é processo, é construção, e é política. As vivências de pessoas pardas não são necessariamente iguais às de pessoas pretas. Existem singularidades mesmo.
Há no debate de parditude a tentativa de construir um meio do caminho entre pretos e brancos, como se os “mestiços” estivessem nessa fronteira. Mas, ainda que a experiência de pardos não seja exatamente a de pretos, ela é radicalmente diferente da de pessoas brancas. São para esses dois grupos racializados, os pardos e pretos (os negros), que o estado brasileiro e grupos de poder têm direcionado sua força opressora e a retirada de direitos sociais e econômicos.
A mestiçagem não é exclusividade das pessoas pardas, é bem provável que todos nós sejamos mestiços. Reivindicar pureza e exclusividade racial nunca nos levou para um bom lugar. Esse não pode ser o caminho, seja para pardos, seja para pretos. Os pretos representam apenas cerca de 10% da população, segundo o IBGE. Então, o movimento negro é formado majoritariamente por pessoas pardas, e é esse conjunto que o constitui.
O próprio processo de construção do movimento negro é marcado por disputas e por diferentes movimentos negros. E eles ainda hoje estão na linha de frente contra as opressões e problemas sociais que afligem os pardos e pretos da sociedade: encarceramento em massa, violência policial, racismo institucional, violência contra mulheres, precarização do trabalho.
Questionar a atuação do movimento negro é diferente de dizer que pardos não são negros, que não pertencem a esse grupo social. E considerando a história de luta e ganhos concretos que esta categoria política nos permitiu, é sempre bom perguntar: a quem esse conceito de parditude serve?
Um debate de internet
A ascensão do debate racial nas mídias digitais é muito responsável pelo surgimento dos movimentos de parditudes. Hoje em dia, é comum que a minha geração e a anterior se engajem na luta contra o racismo a partir da internet e sigam figuras que se tornaram porta-vozes das discussões raciais nas redes.
Talvez – e eu desconfio que sim – tenhamos erroneamente focado na ascensão negra individual, no empoderamento estético, nos debates sobre ‘palmitagem’ e colorismo, discutindo quem é mais negro, pautados pelo ressentimento.
Esse tipo de ativismo negro na internet mais desmobiliza do que unifica a luta, e afasta pessoas pardas do que de fato significa ser negro. E acredito que seja também um reflexo do esvaziamento da luta do movimento negro nas ruas, do apagamento de movimentos antiencarceramento, contra a precarização do trabalho, do transporte, contra o despejo, dos movimentos de mães contra a violência de estado. Eu, mulher negra retinta, me considero parte do movimento negro, mas isso não tem a ver apenas com a cor da minha pele, e a minha experiência sequer pode representar a experiência de todas as pessoas negras (pardas e pretas). Ser negra não é um conceito para afirmar a minha existência biológica, é se colocar como uma sujeita política. E isso o movimento de mulheres negras nos ensina bem, e há tempos!
É verdade também que não se faz esse enfraquecimento do negro só na internet: as bancas de heteroidentificação também fazem parte do problema que afasta e violenta pessoas pardas. Existe ainda uma invizibilização das pessoas indígenas. Nem todas as pessoas pardas são negras, e isso precisa ser complexificado no debate das relações raciais.
Eu conversei, então, com a pesquisadora Flávia Rios sobre as causas, consequências e possíveis caminhos desse debate todo. Se você quer entender melhor também, vale a leitura da entrevista com ela.