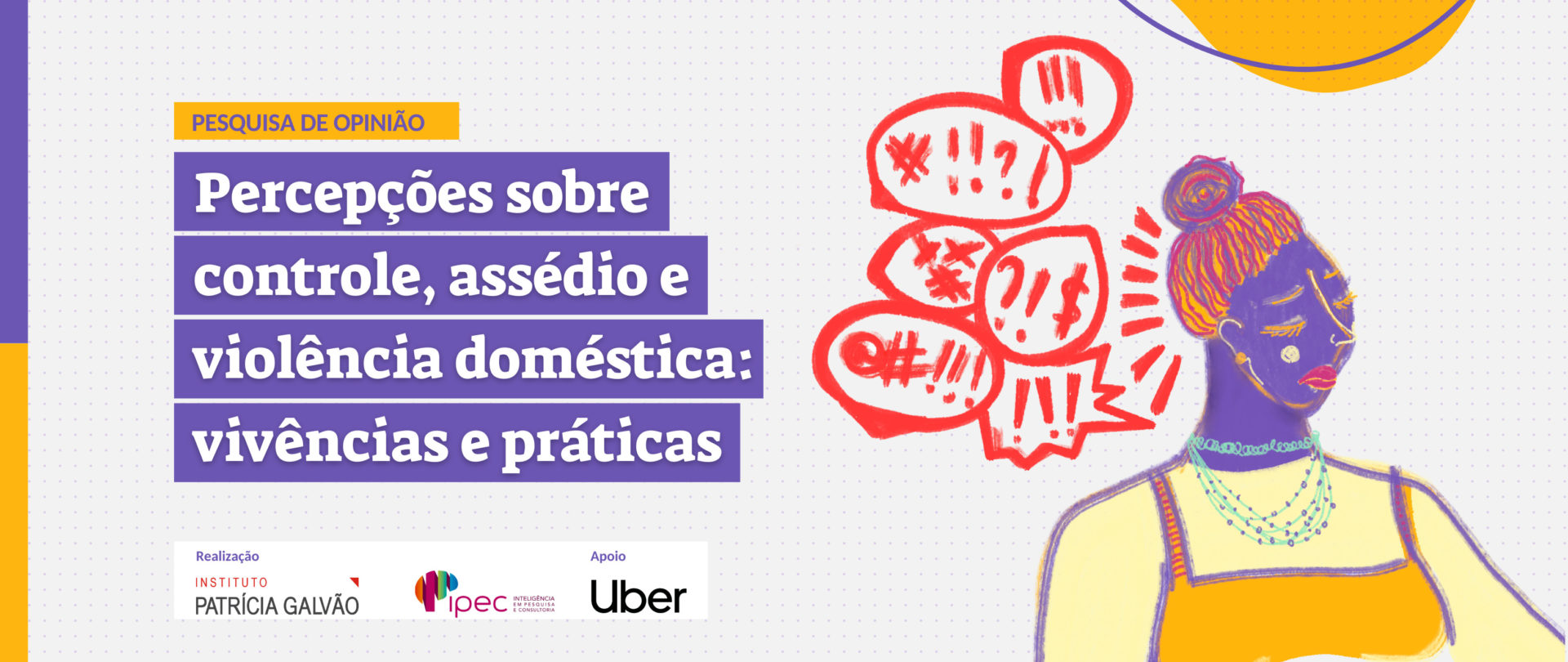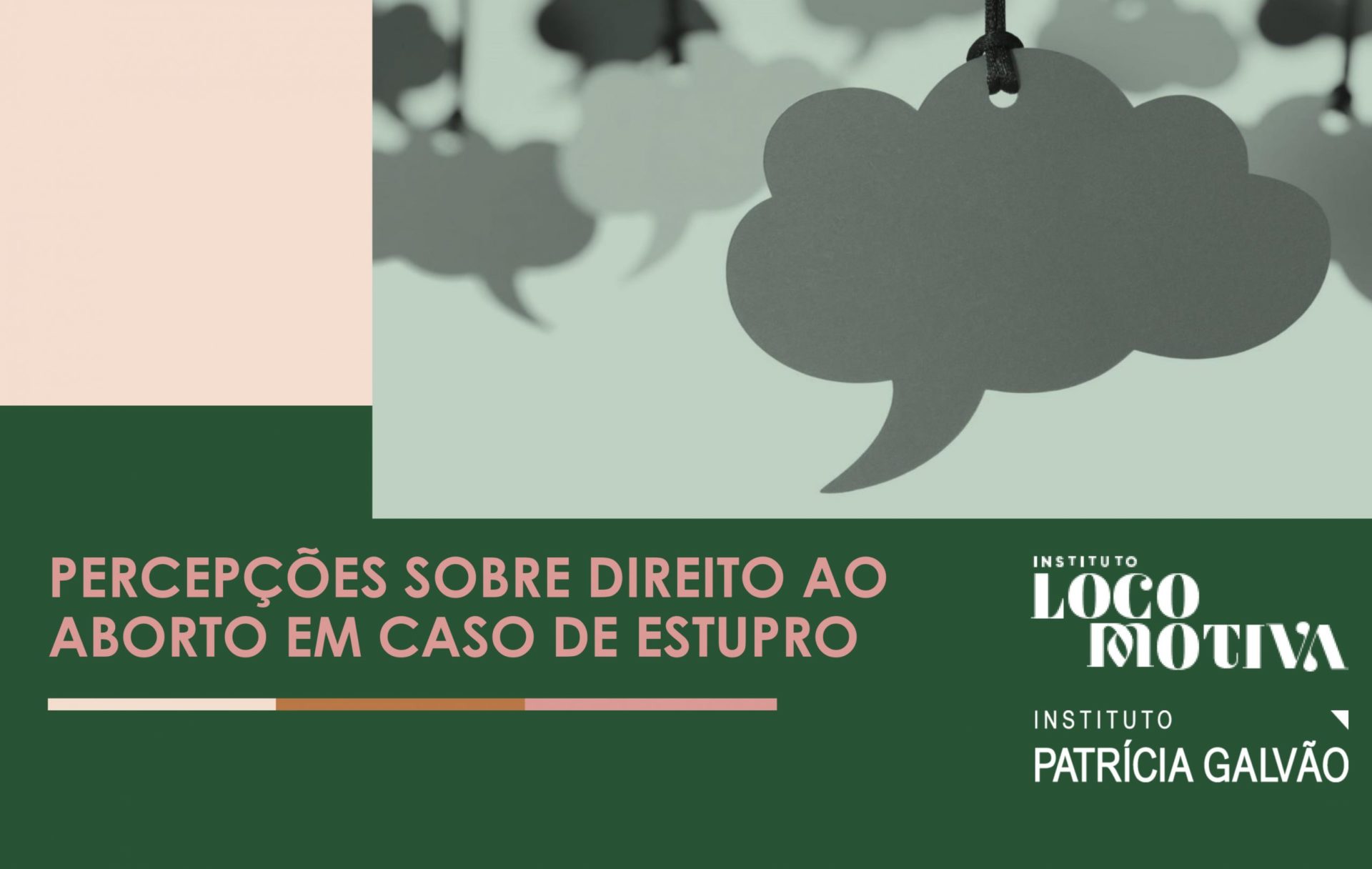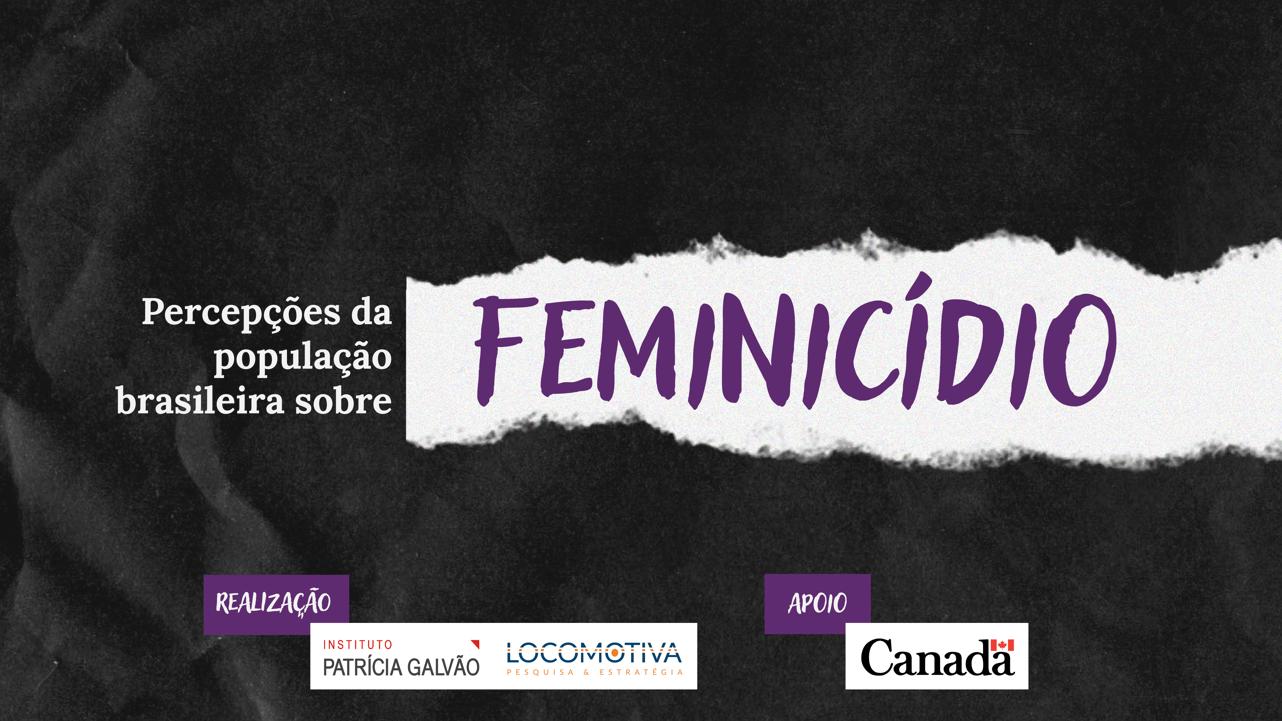Em entrevista, Maria Carolina Medeiros e Letícia Sabbatini refletem sobre a radicalização nas plataformas digitais
Jamie Miller, um menino de 13 anos, é preso nos primeiros minutos da série Adolescência, da Netflix, acusado de assassinar uma garota de sua escola. Policiais arrombam a porta da sua casa e o encontram acuado na cama, tão assustado que faz xixi nas calças. Ele é pequeno, tem feições infantis e chora copiosamente dizendo que não fez nada de errado. O espectador começa a suspeitar que houve algum erro – até que os investigadores mostram imagens de Jamie cometendo o homicídio.
Afinal, como um garoto recém-saído da infância, com uma família relativamente estruturada e sem histórico de mau comportamento pode chegar a esse ponto? Nos episódios seguintes, a série vai passando pelas várias camadas de como ocorre um processo de radicalização de modo quase imperceptível para as pessoas ao redor.
Jamie, assim como muitos outros meninos da sua faixa etária, se vê perdido em um mundo em que os homens deixaram de ser o centro das relações de poder. A reação, para alguns deles, é entrar em grupos digitais masculinistas redpill [referência ao filme Matrix, uma metáfora para homens que “tomam a pílula vermelha” e começam a enxergar que são injustiçados] ou incel [abreviação para celibatários involuntários, grupo de homens que não conseguem ter relacionamentos afetivos e colocam a culpa do fracasso nas mulheres].
Antigamente, estes espaços eram restritos a fóruns do submundo da internet, mas hoje estão na superfície, com influenciadores com milhões de seguidores e conteúdo altamente capilarizado. O discurso machista aparece suavizado, camuflado em humor ou auto-ajuda, e como uma resposta fácil a problemas complexos. Assim, se um menino sofre uma frustração amorosa, ele pode se sentir acolhido em um canal que diz que todas as mulheres são interesseiras e que o mundo pós-feminismo prejudica os homens, por exemplo.
Maria Carolina Medeiros, professora da Escola de Comunicação da Fundação Getulio Vargas (FGV Comunicação) e especialista em socialização feminina, e Letícia Sabbatini, pesquisadora da mesma escola, focada na interseção entre gênero, violência e plataformas digitais, analisam como esses discursos se tornam sedutores para meninos e adolescentes, o papel das redes sociais, os desafios na construção de novas referências de masculinidade – e também os sinais de alerta para pais e educadores identificarem quando um jovem está sendo radicalizado.
A série “Adolescência” conta a história de um garoto de 13 anos que assassina uma menina após ter se tornado um incel. Como acontece o processo de radicalização de um jovem com uma vida aparentemente bem estruturada?
Letícia Sabbatini – Para a gente entender esse processo, é preciso reconhecer como a misoginia está naturalizada em nosso cotidiano. Um homem que estupra não é um monstro isolado escondido num beco escuro, ele é um parente, uma pessoa próxima. A misoginia não é exceção, ela é parte da regra. E não é simplesmente ódio às mulheres, é um sistema que está entranhado em nossas relações pessoais de forma camuflada, muitas vezes como uma piada, um conselho ou até um comentário bem intencionado.
A radicalização acontece quando essa misoginia encontra um ambiente que a amplifica e a legitima. Hoje, a misoginia vem ganhando novas roupagens, mais moderna, jovem, numa linguagem de meme. O que antes ficava restrito a fóruns do submundo da internet, agora aparece em vídeos com milhões de visualizações, com influenciadores carismáticos que têm um discurso machista, mas que muitas vezes é vendido com rótulo de desenvolvimento pessoal.
Esses adolescentes passam a acreditar que seriam vítimas de um sistema que estaria favorecendo mulheres. É um terreno fértil para a radicalização e o discurso incel, que transforma uma frustração afetiva em um ressentimento que muitas vezes se torna violência concreta.
Por que o ambiente das redes favorece tanto a reprodução de conteúdos misóginos?
LS – O caminho para a radicalização não acontece por acaso, ele é também sustentado, incentivado e monetizado pelas plataformas digitais. A lógica dessas empresas não é a de proteger os seus usuários, mas a de promover um engajamento que mais se traduza em lucro, mesmo com conteúdos que promovem ódio. Temos que parar de tratar como casos isolados. Esses grupos da chamada machosfera são a ponta mais visível de uma cadeia de conteúdos e interações misóginas que é mais ampla e muito acessível a qualquer garoto.
O ambiente digital complexifica fenômenos que já existem na nossa sociedade. Com a internet, passam a existir novas formas de violentar as mulheres, com comentários em fotos, campanhas de ódio, exposição sexual não consentida, entre outros. E você potencializa nas mulheres um medo de violência. O medo que as mulheres têm ao sair de casa, por exemplo, se torna medo mesmo dentro de casa, porque com a internet essas violências vão ao encontro delas mesmo num espaço que deveria ser seguro. Ao mesmo tempo, esse tipo de violência também é trivializada, vista como menos ameaçadora porque não envolve um contato físico direto.
Além disso, a mesma estrutura que amplifica a violência também dificulta a responsabilização. Muitas vezes a violência é tratada como uma brincadeira, uma forma de expressão, e o ambiente das redes é visto como um espaço informal, quase sem leis, onde reina uma sensação de impunidade reforçada pelo anonimato, regras de moderação ineficazes.
Por que meninos costumam ser seduzidos por esse discurso?
Maria Carolina Medeiros – Isso acontece no contexto de avanço dos direitos das mulheres, em que os homens passaram a se sentir mais perdidos do que nunca. E aí aparece o questionamento: qual o papel dos homens nessa nova sociedade que se desenha?
Primeiro, a gente tem que pensar que os papéis que a gente convencionou a chamar de papéis de gênero, mas que eu chamo de papéis sociais, não são inatos. Na década de 1930, a antropóloga Margaret Mead já dizia isso. Ela estudava tribos diferentes e mostrava que, em um lugar, as pessoas se comportavam como a sociedade ocidental compreende os papéis de homem e mulher. Em outra, todos se comportavam como o que se espera dos homens. E, na terceira, eram sinais trocados.
A gente deveria entender que alguns signos são de performance. Quando a Simone de Beauvoir diz que ninguém nasce mulher, se torna mulher, ela não está dizendo que se você assimilar signos femininos, você será uma mulher. Ela quer dizer que a mulher passa a vida toda tendo que ter comportamentos que confirmam a sua feminilidade. A feminilidade e a masculinidade não são intrínsecas, elas são papéis sociais.
Então o homem que pinta as unhas, que usa saias, que diz que se solidariza com a luta das mulheres, nada disso por si só desconstrói uma masculinidade.
Outro problema é a falta de referências. Por que se a gente entende hoje que ser o machão que não chora já não faz mais tanto sentido, então qual é a solução? A gente vive em sociedade e precisa de uma forma de classificação para nortear o nosso ser e o nosso estar no mundo. Todo mundo precisa, senão a gente não tem um denominador comum. As mulheres foram lutando para adquirir novos significados na sua existência, com o trabalho, com uma vida fora do lar também valorizada. Mas os homens continuaram no mesmo lugar.