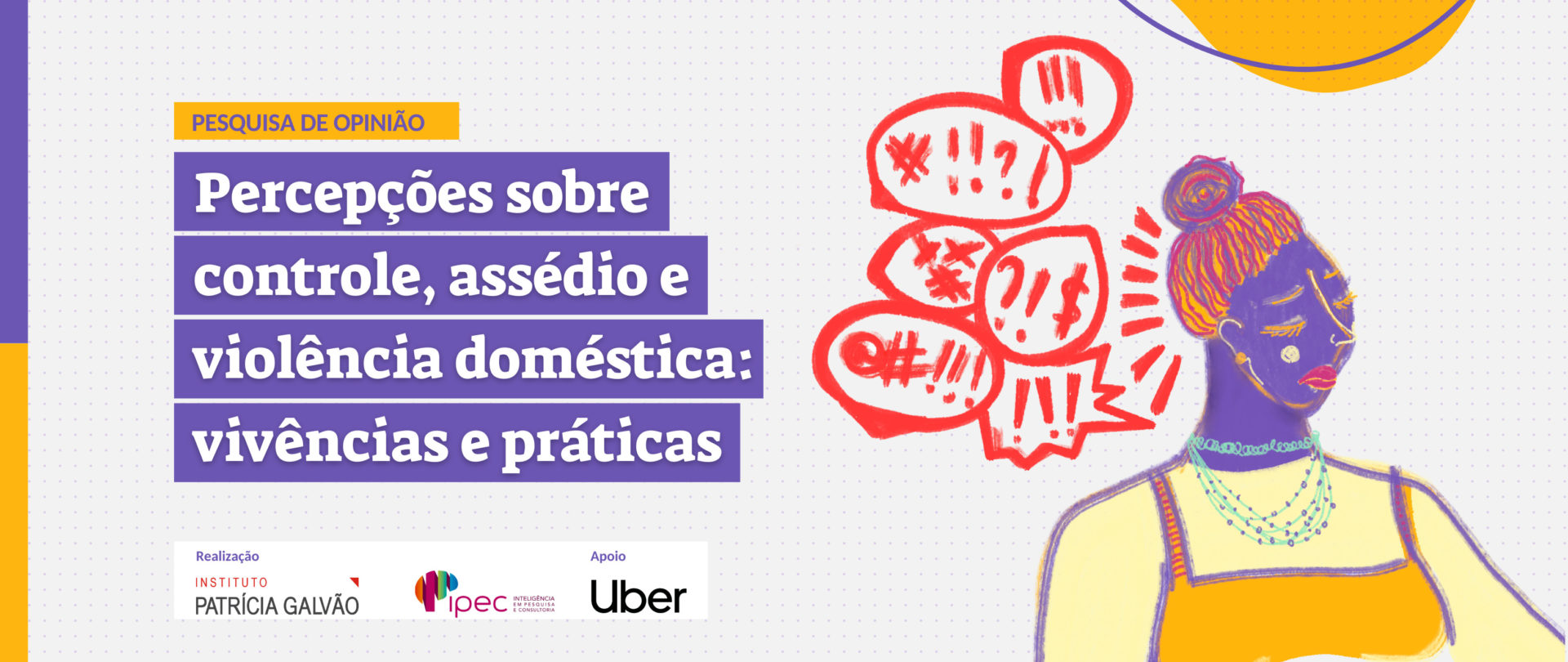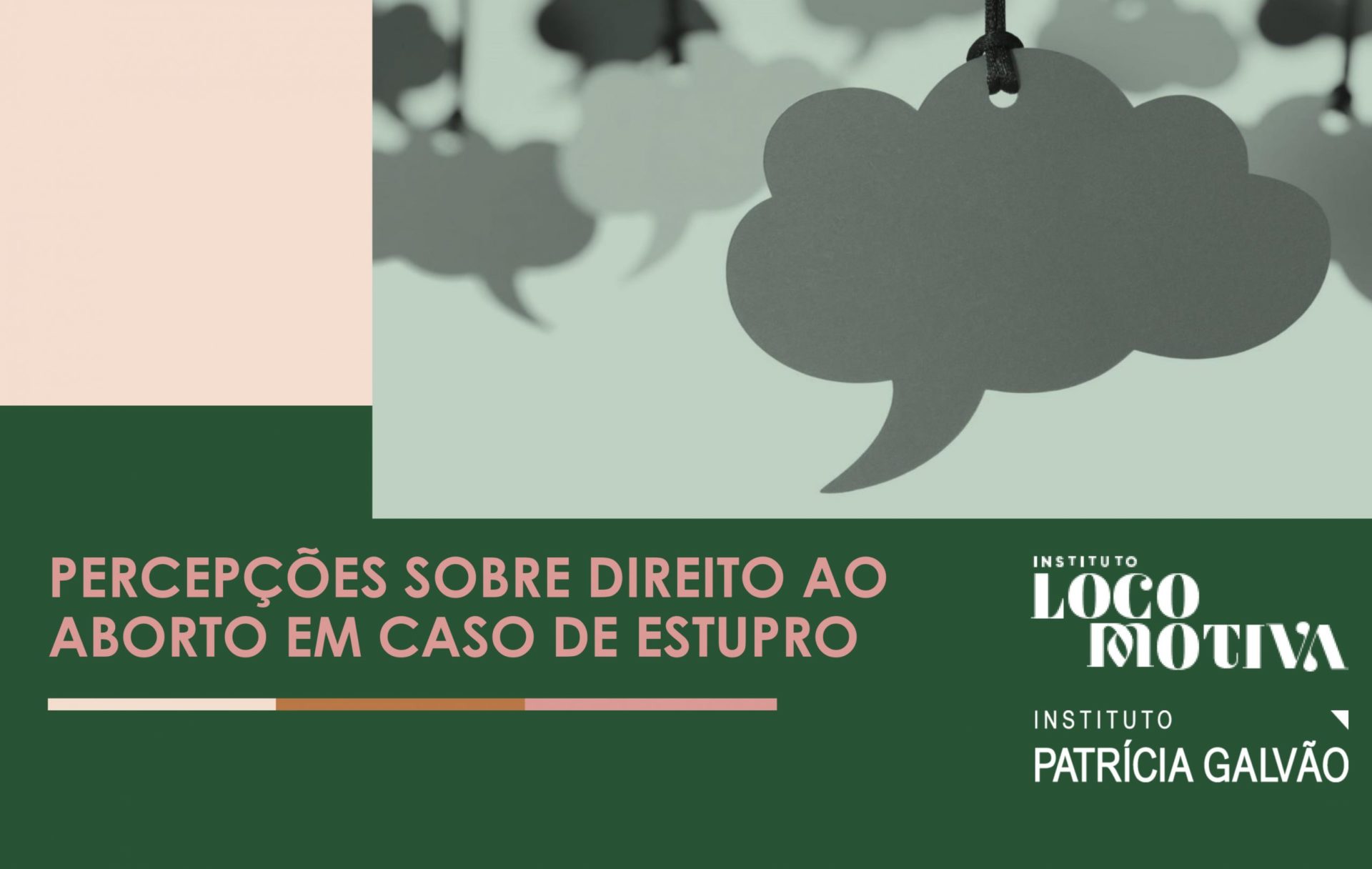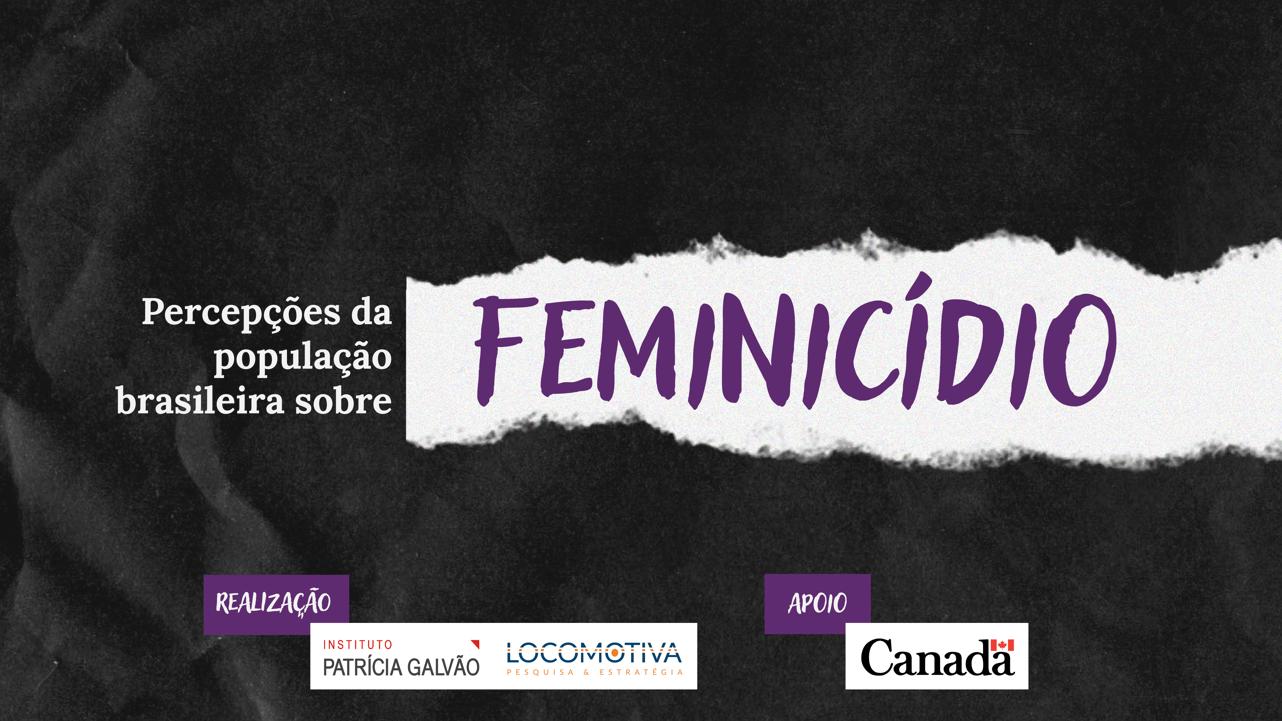No Brasil, apesar da crescente judicialização da assistência obstétrica e da consolidação do debate público sobre práticas abusivas durante a assistência ao parto, a violência obstétrica ainda não possui definição legal expressa. Projetos de lei seguem em tramitação sem previsão de aprovação definitiva, e a análise dos casos concretos permanece sustentada por normas constitucionais, civis, penais e éticas, aplicadas de forma fragmentada. O resultado é um cenário de insegurança jurídica, no qual mulheres, profissionais de saúde e operadores do direito se veem diante de lacunas normativas e decisões marcadas por subjetividade.
Em Portugal, a positivação legal da violência obstétrica ocorreu em março de 2025, com a promulgação da lei 33/25, que passou a definir o termo e a disciplinar condutas e garantias durante a gravidez, parto e puerpério. No entanto, à época da elaboração do presente estudo, ainda não havia legislação específica sobre o tema em Portugal, sendo o assunto tratado por meio da interpretação conjunta de normas constitucionais, civis, penais e deontológicas.
Foi justamente nesse contexto, em que ambos os países careciam de lei específica, que desenvolvemos, sob orientação do professor doutor André Gonçalo Dias Pereira, o trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em Direito da Medicina do Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra, intitulado “Violência Obstétrica: intersecções necessárias entre a autonomia da mulher, responsabilidade médica e direitos do nascituro a partir da legislação brasileira e portuguesa”.
Neste artigo, apresentamos uma síntese crítica da pesquisa, com enfoque nas interações entre a autodeterminação da gestante, os deveres jurídicos e éticos dos profissionais de saúde, e os direitos do nascituro, analisados sob o prisma do direito comparado. Com base em legislação, doutrina e princípios bioéticos, propomos uma leitura integrada das tensões envolvidas no cenário obstétrico, de modo a contribuir para a consolidação de uma atuação jurídica e clínica mais humanizada, baseada em evidência, técnica e justa – especialmente no Brasil, onde a ausência de uma tipificação legal exige dos operadores do direito uma compreensão sistêmica e sensível da matéria, ultrapassando o conhecimento jurídico.
Uma mesma conduta, múltiplas responsabilidades: Esferas civil, penal e ética na prática obstétrica
O termo “violência obstétrica” abrange um conjunto de condutas abusivas, desrespeitosas ou negligentes praticadas contra a mulher durante o pré-natal, o parto ou o puerpério, com potencial de violar sua integridade física, emocional e sua autonomia. A OMS – Organização Mundial da Saúde define a violência como “qualquer ação que tenha o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra o outro ou contra um grupo, que resulte ou possa resultar em qualquer dano psicológico, deficiência, lesão ou morte.”
No contexto da assistência obstétrica, a OMS reconheceu, em 2014, que “muitas mulheres sofrem tratamento desrespeitoso e abusivo durante o parto em instalações de saúde em todo o mundo. Esse tratamento não só viola os direitos das mulheres a cuidados respeitosos, mas também pode ameaçar seus direitos à vida, à saúde, à integridade corporal e à liberdade de discriminação.” Embora atinja mulheres independentemente de raça, credo, idade ou condição socioeconômica, a violência obstétrica revela-se como uma expressão particular de violência de gênero, ainda pouco visibilizada e insuficientemente enfrentada por legislações específicas.
Importante ressaltar que, na análise de casos envolvendo violência obstétrica, exige-se a consideração de uma tríade fundamental: a mulher grávida, os profissionais de saúde envolvidos e o nascituro. É necessário observar o contexto social e os valores de dignidade da gestante, respeitando sua autonomia durante o parto. Os profissionais, por sua vez, devem seguir normas éticas e legais que regulam sua conduta, e qualquer agente que atue no ambiente obstétrico pode ser potencial autor de violência. Já o nascituro, ainda não nascido, possui direitos juridicamente tutelados, devendo sua proteção ser levada em conta em todas as decisões.
Na prática obstétrica, determinadas condutas médicas podem ultrapassar o campo da mera tecnicidade e gerar implicações jurídicas profundas. Quando ocorrem abusos, omissões, procedimentos não consentidos ou atitudes desrespeitosas no cenário do parto, é possível que o mesmo fato seja analisado sob diversas lentes normativas. Uma única conduta médica pode dar ensejo à responsabilização civil, penal e ética-administrativa, conforme a natureza do dano causado, a existência de culpa e os deveres profissionais violados.
Quando falamos em violência obstétrica, é preciso reconhecer que, para além da sua carga simbólica e social, ela é juridicamente compreendida como um fato gerador de dano, passível de reparação. Na esfera civil, o foco será a reparação do dano, ainda que exclusivamente moral, sofrido pela parturiente ou pelo nascituro, com base na conduta negligente, imprudente ou imperita do profissional. A responsabilização se dá por violação ao dever de cuidado e ao princípio da dignidade da pessoa humana, podendo envolver indenizações significativas, especialmente quando houver sequelas físicas, traumas psicológicos ou violação da autonomia reprodutiva da mulher. O CC, tanto brasileiro quanto português, oferece suporte normativo para essa responsabilização com base nos artigos que tratam de atos ilícitos e do dever de indenizar.
Na esfera penal, a conduta médica pode ser enquadrada como crime sempre que exceder os limites da atuação legalmente permitida e causar lesão à integridade física, psíquica ou à vida da paciente. A depender da gravidade dos fatos, o profissional poderá responder, por exemplo, por lesão corporal, constrangimento ilegal, omissão de socorro ou, em situações extremas, por homicídio culposo. Cabe destacar que a responsabilização penal exige demonstração de dolo ou culpa grave, e está sujeita ao devido processo legal, com todas as garantias constitucionais.
Por fim, na esfera ética-administrativa, o médico pode ser responsabilizado por violar preceitos do Código de Ética Médica, o que poderá resultar em advertência, suspensão ou até cassação do exercício profissional. Nessas hipóteses, a análise se concentra na conduta em face dos deveres profissionais, como o respeito à dignidade da paciente, o fornecimento de informações claras e o cumprimento do consentimento informado. Mesmo sem a configuração de crime ou de dano patrimonial relevante, a atuação do Conselho Profissional poderá reconhecer a falha ética, reforçando a natureza complexa da responsabilidade médica em suas diversas esferas no contexto da violência obstétrica.
Partindo-se para uma análise verticalizada das esferas de responsabilidade, como afirmado anteriormente, no Brasil, a responsabilização do médico segue a regra geral da responsabilidade subjetiva, com fundamento nos arts. 186 e 927 do CC. É necessário, portanto, comprovar a ocorrência de conduta culposa (por negligência, imprudência ou imperícia), dano e nexo causal. Em se tratando de prestação de serviços por hospitais ou planos de saúde, poderá haver ainda responsabilidade solidária, inclusive com base no CDC.
Em sede de parto, são exemplos de condutas que podem gerar responsabilidade civil: a realização de procedimentos sem consentimento informado (como episiotomias, cesáreas ou manobras dolorosas), práticas desnecessárias e não baseadas em evidências – como uma cesárea sem real indicação clínica, a omissão injustificada de analgesia e cesárea, a recusa ao acompanhante legalmente garantido ou ainda o uso de expressões ofensivas que afetem a dignidade da parturiente. Mesmo quando não há lesão física identificável, o dano moral é plenamente reparável, conforme já reconhecido por diversos tribunais brasileiros. A jurisprudência vem evoluindo no sentido de reconhecer a singularidade da vivência obstétrica e os impactos que práticas desrespeitosas podem gerar.
Em Portugal, embora o CC também fundamente a responsabilidade civil médica na lógica subjetiva, o sistema jurídico apresenta nuances próprias. Os arts. 483.º e 562.º consagram que quem, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem, está obrigado a reparar os danos decorrentes da sua conduta. No contexto da assistência ao parto, os danos reparáveis podem decorrer tanto de intervenções desnecessárias quanto da omissão de cuidados ou do desrespeito à vontade expressa da gestante. A jurisprudência portuguesa, tende a reconhecer a relevância do dano psíquico, especialmente quando há quebra da confiança entre médico e paciente ou afronta à autodeterminação reprodutiva.
Vale destacar que, à época da redação deste trabalho, Portugal ainda não havia aprovado uma lei específica sobre violência obstétrica. No entanto, como demonstrado, os fundamentos legais já existentes permitiam responsabilizar condutas abusivas com base na violação de direitos fundamentais como a integridade física e moral, o respeito à dignidade da mulher e a necessidade de consentimento esclarecido. Com a entrada em vigor da lei 33/25, que será debatida oportunamente, esses entendimentos ganham densidade normativa, mas não representam uma ruptura: apenas reforçam um caminho, o entendimento jurídico já adotado por decisões e pela doutrina.
Tanto no Brasil quanto em Portugal, a responsabilização civil na seara obstétrica exige uma análise contextualizada do caso concreto, levando em conta não apenas a técnica médica, mas também os direitos da mulher como sujeito ativo da experiência de parto e não como um objeto a ser esvaziado. Trata-se de uma responsabilidade que transcende o dano físico, adentrando o campo da dignidade humana e da integridade relacional entre médico, paciente e nascituro. O médico, ao atuar de forma desatenta, autoritária ou desprovida de empatia, incorre não só em erro técnico, mas em violação contratual qualificada, com repercussões civilmente indenizáveis.
Já a responsabilização penal do médico por atos praticados durante o parto é menos frequente que a civil, mas não menos relevante. A violência obstétrica, quando ultrapassa certos limites, pode se encaixar em tipos penais, conforme já mencionado – especialmente se envolver lesões, constrangimentos, ofensas verbais ou omissão de socorro. A proteção penal se dirige tanto à gestante quanto ao nascituro, refletindo a relevância da tutela penal em momentos de elevada vulnerabilidade física e emocional.
No Brasil, os dispositivos aplicáveis são diversos. A depender da conduta, o médico pode responder, por exemplo, por lesão corporal (art. 129 do CP), ao realizar procedimentos invasivos desnecessários ou não consentidos; no crime de constrangimento ilegal (art. 146), se obrigar a paciente, mediante intimidação, a submeter-se a práticas contra sua vontade; no crime de injúria (art. 140), ao proferir xingamentos ou comentários depreciativos durante o parto; e, em situações extremas, no crime de homicídio culposo (art. 121, §3º), quando sua negligência resultar na morte do bebê ou da parturiente. A omissão de socorro (art. 135) também é frequentemente invocada em contextos em que o profissional, mesmo presente, deixa de agir diante de risco evidente.
Em Portugal, o CP também contempla a possibilidade de responsabilização criminal do médico. O art. 148.º prevê punição para quem, por negligência, ofender o corpo ou a saúde de outrem, inclusive no contexto da assistência médica. Já o art. 150.º estabelece que intervenções realizadas em desacordo com as leges artis, ou seja, fora dos padrões técnicos reconhecidos, podem configurar crime, sobretudo se gerarem perigo à vida ou à integridade da mulher ou do nascituro. O art. 156.º criminaliza a realização de tratamentos sem consentimento, exceto em situações de risco iminente, e o art. 157.º exige que o paciente esteja adequadamente esclarecido quanto à natureza e consequências da intervenção, sob pena de invalidar o consentimento.
Ressalta-se que, em ambas as jurisdições, a responsabilização penal exige a comprovação de dolo ou culpa grave. No entanto, o exercício da medicina obstétrica, por sua complexidade e impacto emocional, exige do profissional mais do que técnica: exige sensibilidade, respeito e prudência. A ausência dessas qualidades pode ser juridicamente interpretada como descaso, desprezo à integridade da paciente ou negligência com a vida intrauterina, o que atrai a aplicação de sanções penais.
Por isso, mais do que temer a responsabilização criminal, o médico deve compreendê-la como um alerta para os limites éticos e legais da sua prática. A humanização do parto não é apenas uma diretriz política, mas uma exigência jurídica. Violá-la, mesmo sob o pretexto da experiência clínica ou da rotina hospitalar, pode implicar não apenas indenizações, mas privação de liberdade, sanções restritivas de direitos ou até a destruição da carreira profissional. O direito penal, neste contexto, atua como a instância de resposta mais severa do ordenamento e, justamente por isso, deve ser tratado com seriedade e responsabilidade desde a formação médica.
Para além das esferas civil e penal, como dito anteriormente, o médico obstetra está submetido a um terceiro eixo de responsabilização: a ética-profissional ou deontológica, fiscalizada pelos Conselhos de Medicina no Brasil e pela Ordem dos Médicos em Portugal. Trata-se de uma instância de análise que, embora não envolva diretamente reparação pecuniária ou sanção penal, possui impacto profundo sobre a legitimidade, a reputação e a continuidade do próprio exercício profissional.
No Brasil, o CEM – Código de Ética Médica é o principal instrumento normativo que orienta a conduta esperada do profissional. A responsabilidade médica, como destaca o art. 1º do CEM, é sempre pessoal e fundamentada na presença de culpa, por imperícia, imprudência ou negligência. A violência obstétrica, mesmo sem tipificação própria no CEM, pode ser enquadrada em diversos dispositivos que exigem do médico respeito à dignidade, autonomia, intimidade e integridade da paciente. A realização de procedimentos sem consentimento (art. 22), o desrespeito à decisão da paciente (art. 31), a falta de esclarecimento adequado (art. 34) ou o uso de linguagem desrespeitosa (art. 23) são faltas éticas puníveis com advertência, suspensão ou cassação do registro profissional.
Em Portugal, o Código Deontológico da Ordem dos Médicos cumpre papel equivalente. O médico é obrigado a garantir o consentimento informado, o respeito pelas crenças e autonomia da gestante, bem como a comunicação empática, adequada e clara. O art. 19.º prevê o dever de esclarecimento, o art. 20.º trata do consentimento livre e informado, e o art. 25.º reforça o dever de informar com prudência, dignidade e humanidade. A omissão desses deveres, mesmo que não configure crime ou gere dano material imediato, é suficiente para ensejar a abertura de processo disciplinar, com sanções que incluem advertência, censura, suspensão ou mesmo expulsão da Ordem.
Importante destacar que, diferentemente da esfera penal ou civil, a responsabilização ética não exige demonstração de nexo causal com dano físico, bastando a violação de um dever profissional ou o descumprimento das boas práticas de cuidado. Assim, mesmo um comentário desnecessário, uma atitude autoritária ou uma conduta tecnicamente correta, mas eticamente reprovável, pode ser sancionada. A perspectiva ética, portanto, antecipa o dano jurídico, atuando como instrumento de prevenção e regulação moral da prática médica.
Essa dimensão é particularmente sensível na violência obstétrica, pois os princípios da medicina são centrados na pessoa. O respeito à mulher em trabalho de parto exige mais do que a ausência de erro técnico: há necessidade de escuta, acolhimento e compromisso com uma assistência baseada em evidências e em humanidade. A ética médica, nesse contexto, não é apenas normativa, ela é estrutural.
A lei portuguesa 33/25: Marco normativo para a proteção da gestante e a prevenção da violência obstétrica
A promulgação da lei 33/25, de 31 de março, representou um marco inédito no ordenamento jurídico português ao reconhecer expressamente a existência e gravidade da violência obstétrica. Pela primeira vez, o legislador tipificou juridicamente a prática como forma de violência institucional e de gênero, estabelecendo diretrizes objetivas para sua prevenção, monitoramento e responsabilização. A nova lei alterou a lei 15/14, consolidando a proteção na gravidez, no parto e no puerpério, além de reforçar o direito à autodeterminação sexual e reprodutiva da mulher.
O art. 2.º da lei 33/25 define violência obstétrica como “a ação física e verbal exercida pelos profissionais de saúde sobre o corpo e os procedimentos na área reprodutiva das mulheres ou de outras pessoas gestantes, que se expressa num tratamento desumanizado, num abuso da medicalização ou na patologização dos processos naturais”. Essa definição, reforça a proteção da gestante como sujeito autônomo de direitos, sem desconsiderar o papel do profissional ou os limites técnicos da atuação médica.
Além disso, a lei criou mecanismos operacionais relevantes, como a Comissão Multidisciplinar para os Direitos na Gravidez e no Parto, que é responsável por promover campanhas educativas e de sensibilização para diminuição de atos de violência no parto e promoção da humanização. Estabeleceu obrigações documentais, como o registro justificado de qualquer desvio do plano de parto, a afixação obrigatória de cartazes informativos nos hospitais e a proibição de episiotomias de rotina sem indicação técnica fundamentada. A norma prevê, ainda, medidas educacionais e formativas. Assim, não apenas tipifica uma conduta, mas impulsiona uma mudança cultural e ética no atendimento obstétrico.
Entretanto, a entrada em vigor da lei 33/25 não encerrou o debate. Projetos de lei que visam à sua revogação foram rapidamente apresentados no Parlamento, revelando resistências institucionais à regulação da prática obstétrica, evidenciando que a consolidação de um modelo de parto respeitoso e centrado na mulher depende não apenas de leis, mas da persistência na construção de consensos éticos e sociais duradouros, que para além da lei, faz-se necessária uma verdadeira mudança cultural.
Reflexões finais – a necessidade de tutela integrada dos direitos em caso de colisão
A violência obstétrica não se limita à agressão física, mas abrange condutas sutis e simbólicas que podem comprometer profundamente a dignidade da parturiente e a segurança do neonato. A responsabilização do profissional deve considerar o equilíbrio delicado entre a autonomia da mulher, os deveres de diligência médica e os direitos do nascituro.
A ausência de lei específica no Brasil não impede o reconhecimento jurídico da violência obstétrica, desde que os princípios constitucionais, civis e éticos sejam adequadamente interpretados. Já em Portugal, a entrada em vigor da lei 33/25 reforça o compromisso com a humanização do parto, embora sua efetividade dependa de sua consolidação normativa e cultural.
A atuação médica no parto carrega um dos encargos mais delicados e simbólicos da profissão: o de assistir à transição entre vida intrauterina e extrauterina, zelando simultaneamente por duas existências ou por vezes mais. O profissional não é inimigo da autonomia da mulher, tampouco mero executor da sua vontade, mas um agente técnico, ético e jurídico responsável por garantir a melhor prática possível, com base na medicina baseada em evidências, no diálogo empático e no respeito às escolhas informadas. Ao mesmo tempo, não se pode desconsiderar que o nascituro, embora ainda não tenha personalidade jurídica plena, possui proteção legal desde a concepção e demanda atenção especial diante de riscos concretos.
Por isso, a atuação obstétrica deve buscar constantemente o equilíbrio entre três eixos fundamentais: a vontade da mulher gestante, a responsabilidade técnica e legal do profissional de saúde e os direitos do nascituro. Quando um desses pilares é ignorado, rompe-se o vínculo de confiança que sustenta uma assistência humanizada e juridicamente segura. O objetivo das normas é transformar a cultura do cuidado, e não apenas punir. O médico obstetra do século XXI deve ser tecnicamente preparado, legalmente consciente, humanamente disponível e empático. A escuta, o diálogo e o respeito à individualidade da mulher, são elementos centrais de uma assistência ética, segura e digna.