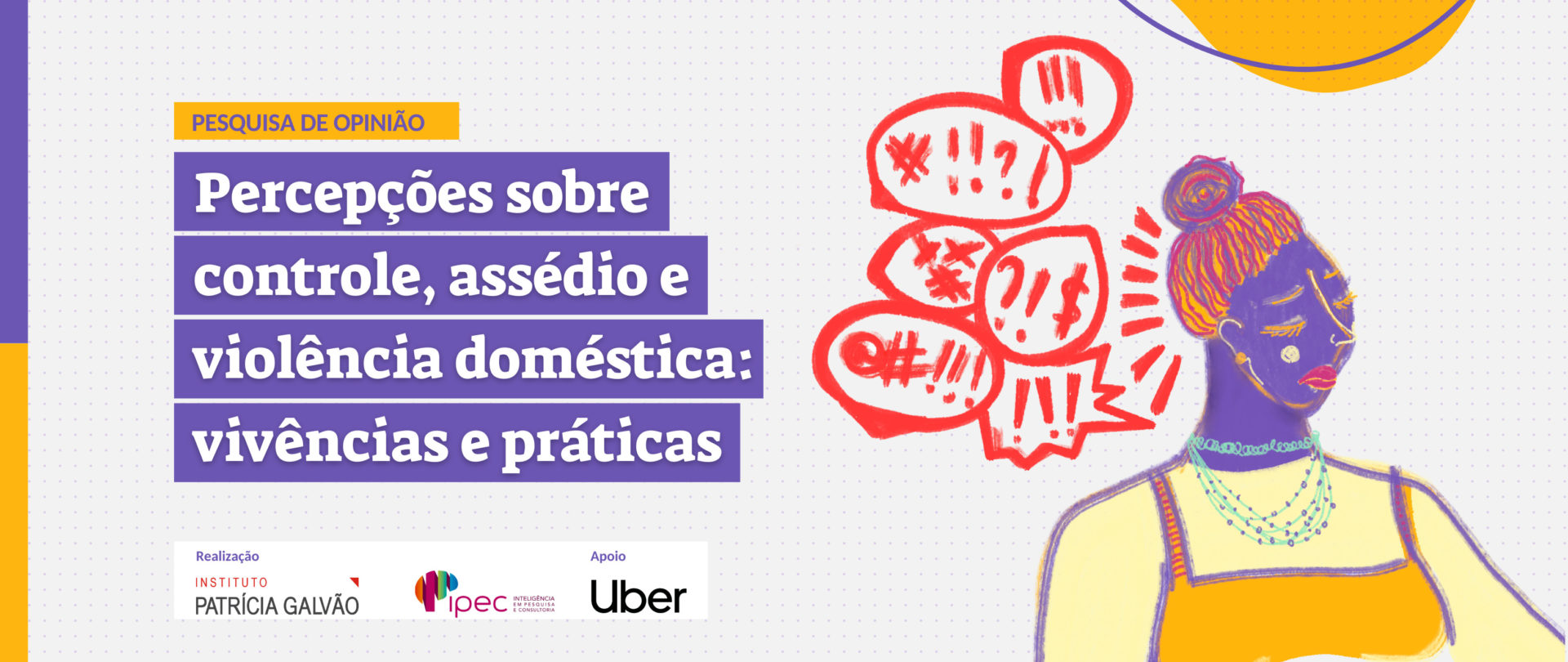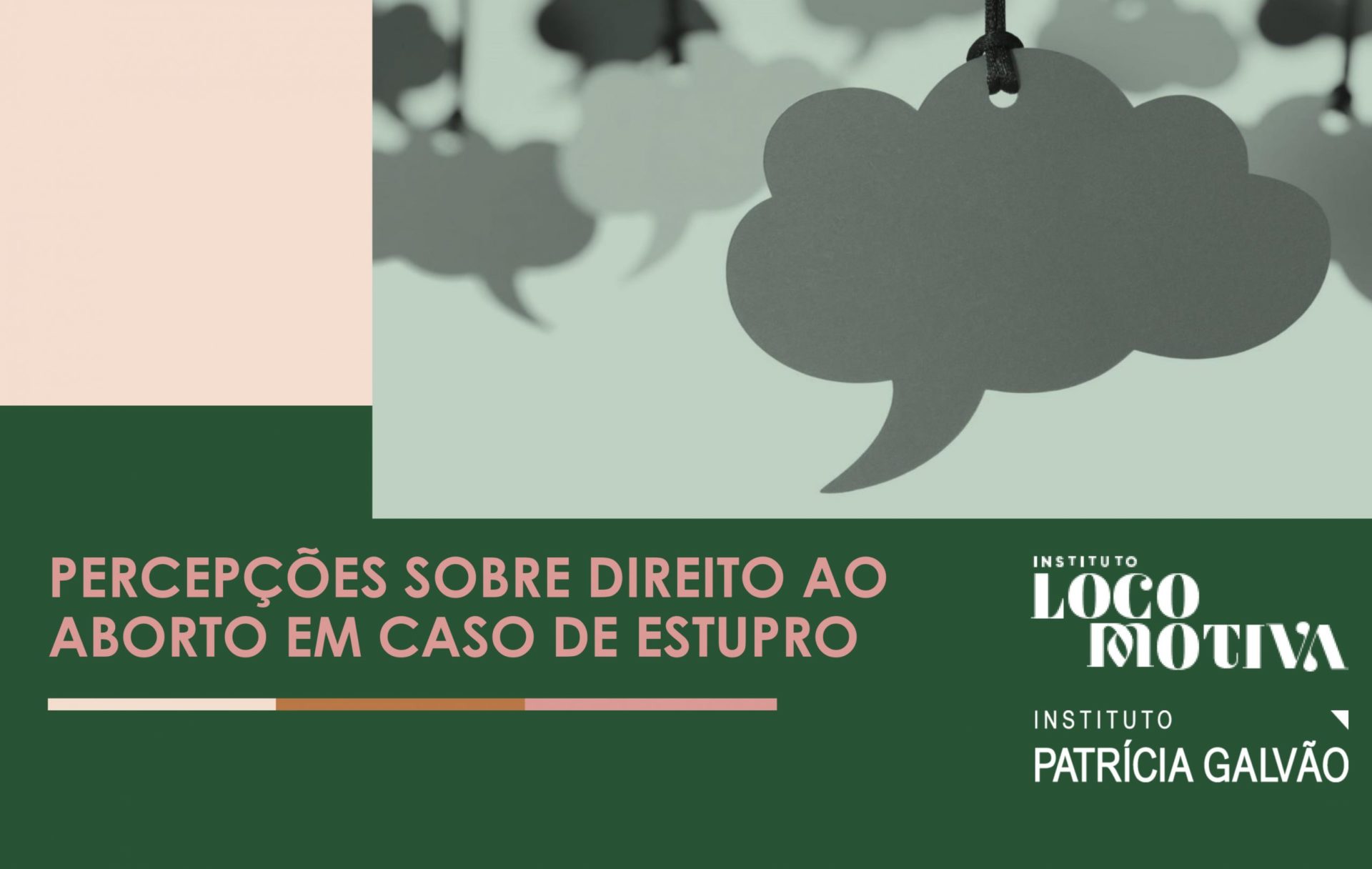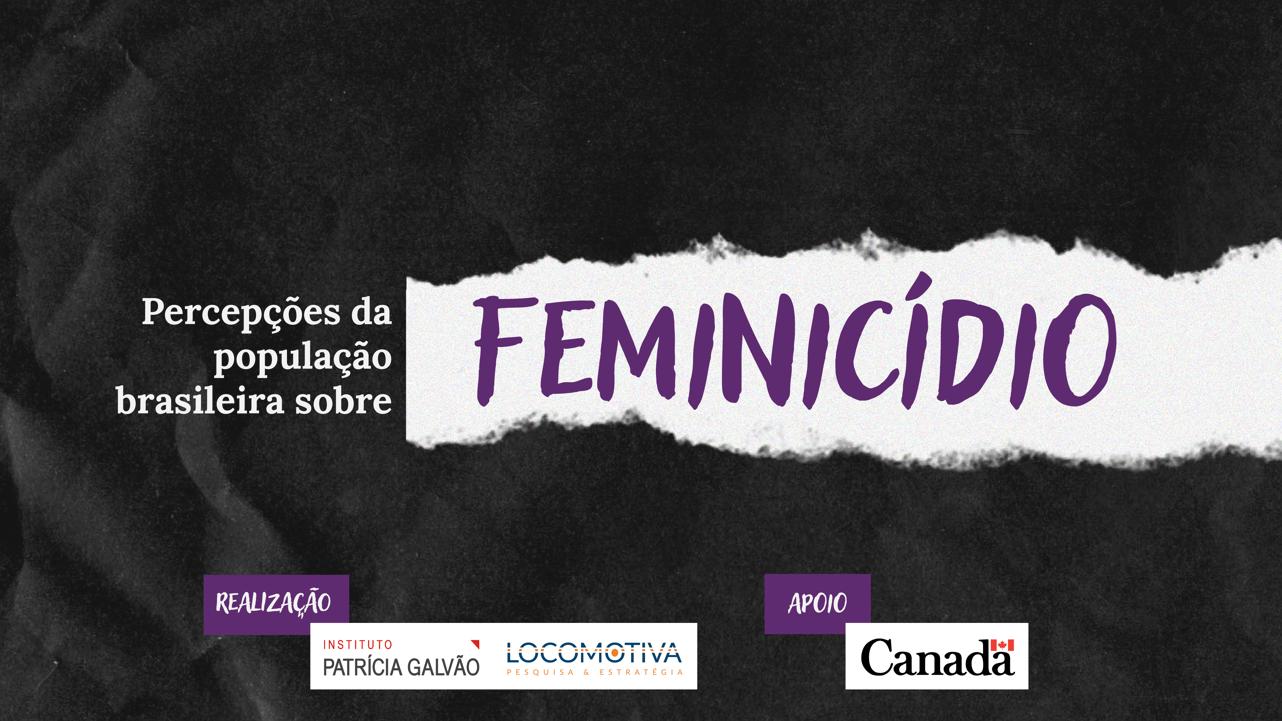Por trás das estatísticas globais sobre tráfico de pessoas, uma constatação se mantém constante: mulheres e meninas são as principais vítimas. Segundo o Global Report on Trafficking in Persons 2024, da UNODC, 61% das vítimas identificadas em 2022 eram do sexo feminino, e a maioria continua sendo traficada para fins de exploração sexual. Mas o relatório também mostra uma mudança preocupante: cresce o número de mulheres traficadas para o trabalho forçado, sobretudo no trabalho doméstico, para casamentos forçados e, cada vez mais, para o cometimento de crimes, como transporte de drogas ou fraudes.
A criminalização forçada é uma forma de tráfico de pessoas frequentemente invisibilizada, mas que impacta diretamente a vida de muitas mulheres migrantes atendidas pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC). Atuando desde 1997, o ITTC é uma organização da sociedade civil que presta atendimento sociojurídico a mulheres migrantes em conflito com a lei na cidade de São Paulo. O tráfico de pessoas está profundamente conectado à atuação do Instituto, uma vez que muitas das mulheres acompanhadas são vítimas não reconhecidas e criminalizadas.
Muitas delas foram presas enquanto atuavam transportando drogas entre fronteiras, enquadradas no tráfico internacional. Algumas sabiam da finalidade da viagem desde o início.
Mas muitas outras foram enganadas, ameaçadas, coagidas ou submetidas a falsas promessas de trabalho. Em todos esses casos, há elementos que configuram o crime de tráfico de pessoas.
Temos como parâmetro o Protocolo de Palermo, documento internacional de referência no tema. Adotado pelas Nações Unidas em 2000, ele é o principal instrumento internacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Ele define o tráfico como o recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recepção de pessoas por meios como ameaça, uso da força, coação, engano ou abuso de vulnerabilidades, com o objetivo de exploração.
Essa exploração pode incluir trabalho forçado, exploração sexual, servidão, remoção de órgãos, entre outras formas. O Protocolo também estabelece a responsabilidade dos Estados em prevenir o tráfico, punir os responsáveis e proteger as vítimas, reconhecendo que elas não devem ser criminalizadas por atos cometidos como resultado direto de sua condição de pessoas traficadas.
“O que o ITTC observa, no Brasil, é a ausência de reconhecimento da condição de vítimas de tráfico para mulheres migrantes submetidas à criminalização forçada.”
Apesar do Protocolo de Palermo, o sistema penal brasileiro continua a tratar essas mulheres como autoras de crimes, especialmente no contexto do tráfico internacional de drogas.
Esse fenômeno, em que mulheres são coagidas, enganadas ou forçadas a atuar no transporte de substâncias, exemplifica uma das faces do tráfico de pessoas contemporâneo, que vai além da exploração sexual e do trabalho forçado e inclui também a exploração para o cometimento de delitos.
A criminalização dessas mulheres evidencia como o Sistema de Justiça falha ao desconsiderar marcadores como gênero, raça e vulnerabilidade socioeconômica, condenando como autoras de crime aquelas que, na realidade, são vítimas de um processo de exploração.
Sete a cada dez mulheres atendidas se declaram não brancas
Com mais de 25 anos de atuação no atendimento direto a mulheres migrantes em conflito com a lei no Brasil, o ITTC vem acumulando um banco de dados, a partir de aplicação de questionários às mulheres atendidas, e uma escuta qualificada que possibilitam análises sobre as interseções entre tráfico de pessoas, racismo e desigualdades de gênero. Essa experiência evidencia como a seletividade penal opera para punir mulheres migrantes não-brancas em contextos de violação de direitos, reforçando desigualdades históricas e invisibilizando trajetórias de exploração.
O levantamento de dados é realizado por meio da aplicação de questionários durante os atendimentos, no momento de acolhimento das mulheres. Por esse motivo, há variações nas respostas: nem todas as perguntas são respondidas, e as mulheres têm o direito de não responder sem que isso comprometa o atendimento prestado.
No que se refere à autodeclaração racial, há um desafio metodológico importante na sistematização dessas informações entre mulheres migrantes em conflito com a lei, especialmente diante da diversidade de categorias raciais utilizadas em seus países de origem. Ainda que este levantamento tenha se concentrado em mulheres de origem latino-americana e caribenha, regiões que compartilham um passado colonial e escravista, os termos adotados por cada país podem divergir significativamente, o que faz com que as categorias utilizadas pelo IBGE muitas vezes não correspondam às formas como essas mulheres se identificam.
Entre 2015 e 2019, o ITTC aplicou um questionário a 351 mulheres migrantes da América Latina e Caribe.
Os dados indicam que 71% delas se autodeclararam não brancas, utilizando termos como morena, parda, trigueña, mulata, preta, indígena, castanha e café.
Apenas 24% se identificaram como brancas ou amarelas. A partir dessa autodeclaração, os dados foram agrupados em dois grandes blocos: negras (pretas e pardas) + indígenas e brancas + amarelas.
Embora os dados sejam exploratórios, eles são consistentes com a realidade do sistema prisional brasileiro, onde o racismo institucional atravessa todas as etapas do processo penal. Segundo dados do segundo semestre de 2024 do Sistema Nacional de Informações Penais (SISDEPEN), 65% da população carcerária brasileira é negra e indígena.
No caso das mulheres, o encarceramento por crimes relacionados à Lei de Drogas afeta majoritariamente as negras e periféricas. Com as mulheres migrantes, especialmente as negras e indígenas, a lógica se repete e se intensifica. Ao comparar os dados, o ITTC observou o seguinte:
Mulheres negras e indígenas tendem a receber penas mais altas do que mulheres brancas e amarelas, ainda que possuam perfis semelhantes e tenham vivido experiências parecidas.
Isso indica a presença de viés racial no julgamento, em que mulheres negras e indígenas são mais facilmente associadas à figura da criminosa.
Essa análise permite refletir sobre como a política de guerra às drogas opera com marcadores raciais e de nacionalidade, penalizando de forma mais severa pessoas consideradas racialmente e socialmente indesejáveis. Mulheres não brancas, migrantes, pobres e em situação de vulnerabilidade acabam sendo alvos preferenciais das redes internacionais de tráfico, muitas vezes recrutadas para exercer funções de alto risco e baixa remuneração, como a de “mula”*, carregando drogas entre países. Neste artigo, explicamos por que o termo desumaniza as mulheres. Vale dar uma olhada ao finalizar sua leitura.
Ao mesmo tempo, elas são também o alvo preferencial da punição penal. Não são reconhecidas como vítimas de tráfico de pessoas, mas sim rotuladas como criminosas. Isso revela uma profunda contradição na forma como o Estado brasileiro aplica a legislação sobre tráfico de pessoas: a lógica punitivista prevalece sobre a proteção de direitos de pessoas vítimas.