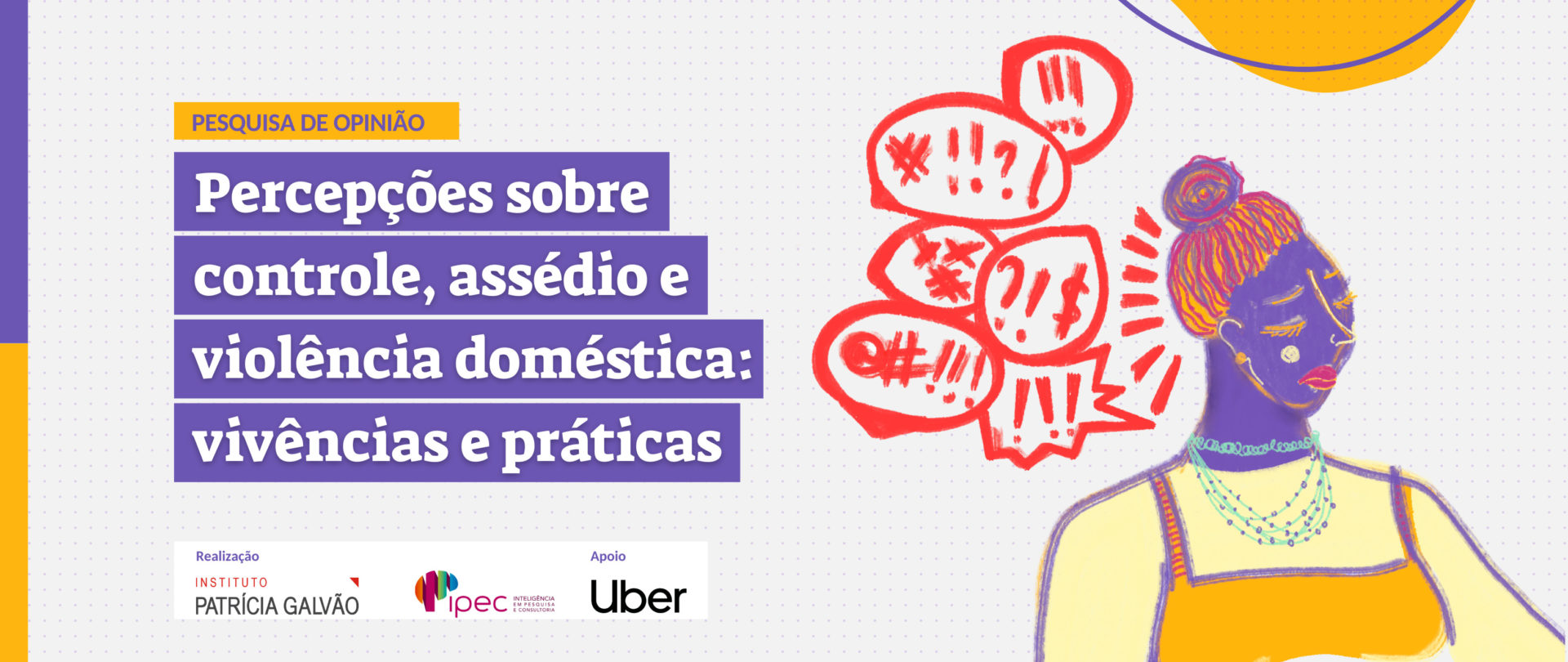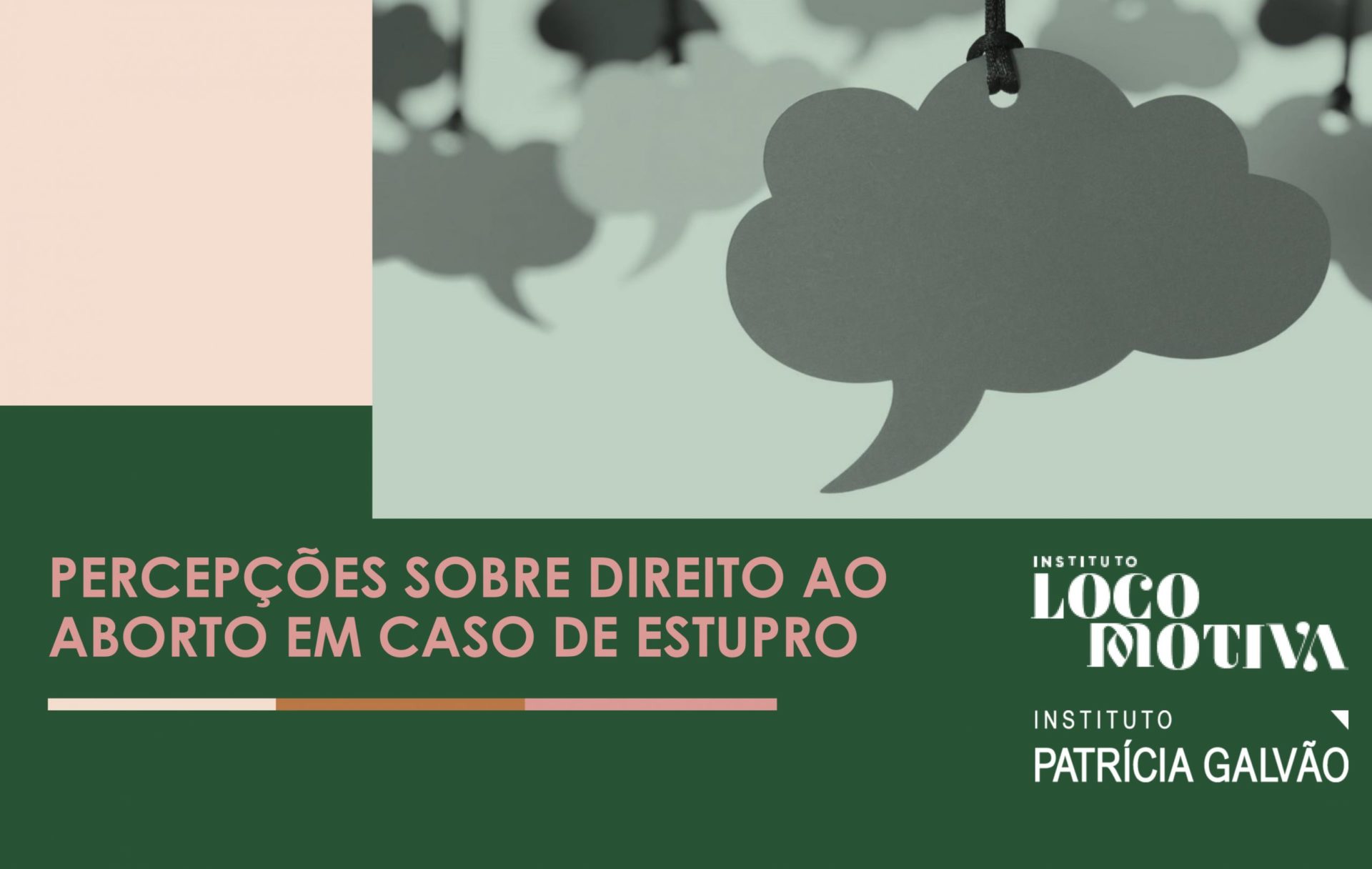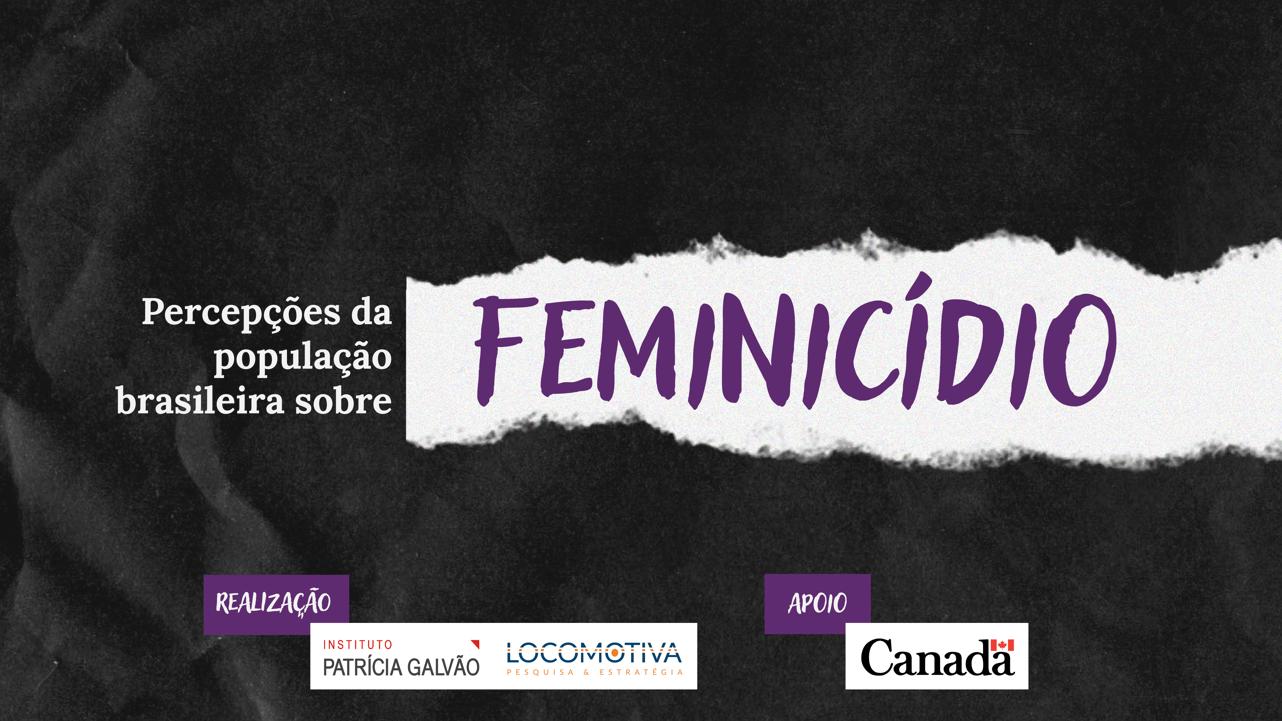A crescente visibilidade das violências cometidas contra mulheres nas últimas décadas tem escancarado, além da brutalidade dos atos em si, uma prática recorrente no sistema de Justiça penal: a tendência de reinterpretar esses crimes sob o prisma clínico e da patologização dos agressores. Transtornos psiquiátricos, dependência de álcool ou outras drogas, quadros de impulsividade, todos esses elementos são frequentemente invocados pelas defesas técnicas como estratégias de desresponsabilização penal, sob a alegação de exclusão ou diminuição da culpabilidade.
Apesar de, em muitos casos, essas alegações contarem com respaldo técnico por meio de laudos e pareceres médicos, a prática pode levantar dúvidas sérias quanto à sua compatibilidade com os princípios estruturantes do direito penal, como a responsabilidade pessoal, a proporcionalidade e, principalmente, a proteção efetiva das vítimas. Ao privilegiar a ótica da doença de forma prematura sobre a da responsabilização, corre-se o risco de esvaziar o protagonismo da vítima no processo penal, reforçando uma cultura de complacência com a violência de gênero.
Construção da imputabilidade e instrumentalização da patologia
A imputabilidade é um dos pilares da culpabilidade penal. Para que alguém seja responsabilizado criminalmente, é necessário que o agente tenha plena capacidade de entendimento e autodeterminação no momento da conduta. O artigo 26 do Código Penal estabelece:
“É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento.”
Apesar disso, a prática forense tem ampliado, de forma questionável, o alcance desse dispositivo. É importante destacar que transtornos de personalidade, em regra, não excluem a imputabilidade porque não afetam a capacidade cognitiva de compreender o caráter ilícito dos atos, nem a capacidade volitiva de autodeterminar-se conforme esse entendimento. O agente, ainda que portador de tal diagnóstico, mantém consciência sobre a natureza criminosa de sua conduta e preserva, em maior ou menor medida, o controle sobre suas ações.
Diagnósticos como transtorno de personalidade (como TPOC, borderline e antissocial), comportamentos impulsivos ou o uso de substâncias psicoativas frequentemente são utilizados como argumentos defensivos para afastar ou reduzir a imputabilidade em casos de violência doméstica ou feminicídio.
Essa extensão interpretativa cria uma zona nebulosa entre diagnósticos legítimos e o uso estratégico de discursos médicos como argumento defensivo para fragilizar a acusação. Em crimes atravessados por relações de poder, misoginia e estruturas patriarcais, essa prática pode mascarar intenções conscientes sob o manto da doença, da anormalidade.
Outro aspecto preocupante é a frequência com que avaliações psiquiátricas são solicitadas unilateralmente e sem qualquer indício que as justifique pelas defesas, muitas vezes sem um contraditório efetivo. Em não raros casos, os pareceres são rasos, não consideram a dinâmica da violência de gênero, ignoram o histórico do agressor e a potencialidade criminosa inerente do ser humano. A questão central, portanto, não é a existência ou desnecessidade da perícia psiquiátrica, fundamental nos casos de real incapacidade psíquica, mas o seu uso como ferramenta para amenizar ou eliminar a responsabilidade penal.
A criminóloga Carol Smart, em sua obra Feminism and the Power of Law, já alertava para o fato de que, ao incorporar a linguagem médica, o direito muitas vezes silencia as experiências das mulheres e suaviza a gravidade e normalidade da violência masculina. Quando o agressor é tratado como paciente, o foco se desloca da vítima, e a responsabilização se torna secundária.
Violência de gênero, seletividade psiquiátrica e a cultura da impunidade
Tratar de forma reiterada a violência masculina como sintoma de doença mental e não como escolha consciente é adotar uma postura que, na prática, relativiza a responsabilidade dos agressores e, por consequência, acaba justificando seus atos. Crimes com dolo, planejamento e reincidência acabam sendo tratados como frutos de desequilíbrios emocionais momentâneos ou lapsos de consciência.
No entanto, a raiz da violência contra a mulher não está, majoritariamente, em quadros psiquiátricos, e sim em uma estrutura social patriarcal que ainda legitima ideias de posse, controle e dominação masculina. Nesse contexto, a psiquiatrização da conduta do agressor funciona como um mecanismo de “higienização” da narrativa criminal, afastando a responsabilidade e normalizando o comportamento violento.
A criminóloga argentina Rita Laura Segato enfatiza que o agressor não age por impulso ou descontrole, mas de forma estratégica, reafirmando sua masculinidade diante de uma mulher que rompe com expectativas de submissão.
Apesar da gravidade do problema, a jurisprudência brasileira ainda oscila. Existem decisões judiciais que acolhem laudos psiquiátricos frágeis, ignoram padrões de violência reiterada e desconsideram o dolo presente nas condutas. Isso representa uma afronta direta aos objetivos da Lei Maria da Penha, que determina a responsabilização plena do agressor e reconhece a violência doméstica como uma violação aos direitos humanos.
Ao privilegiar discursos psiquiátricos em detrimento da vítima, o Judiciário contribui para sua revitimização e reforça o ciclo da
impunidade.