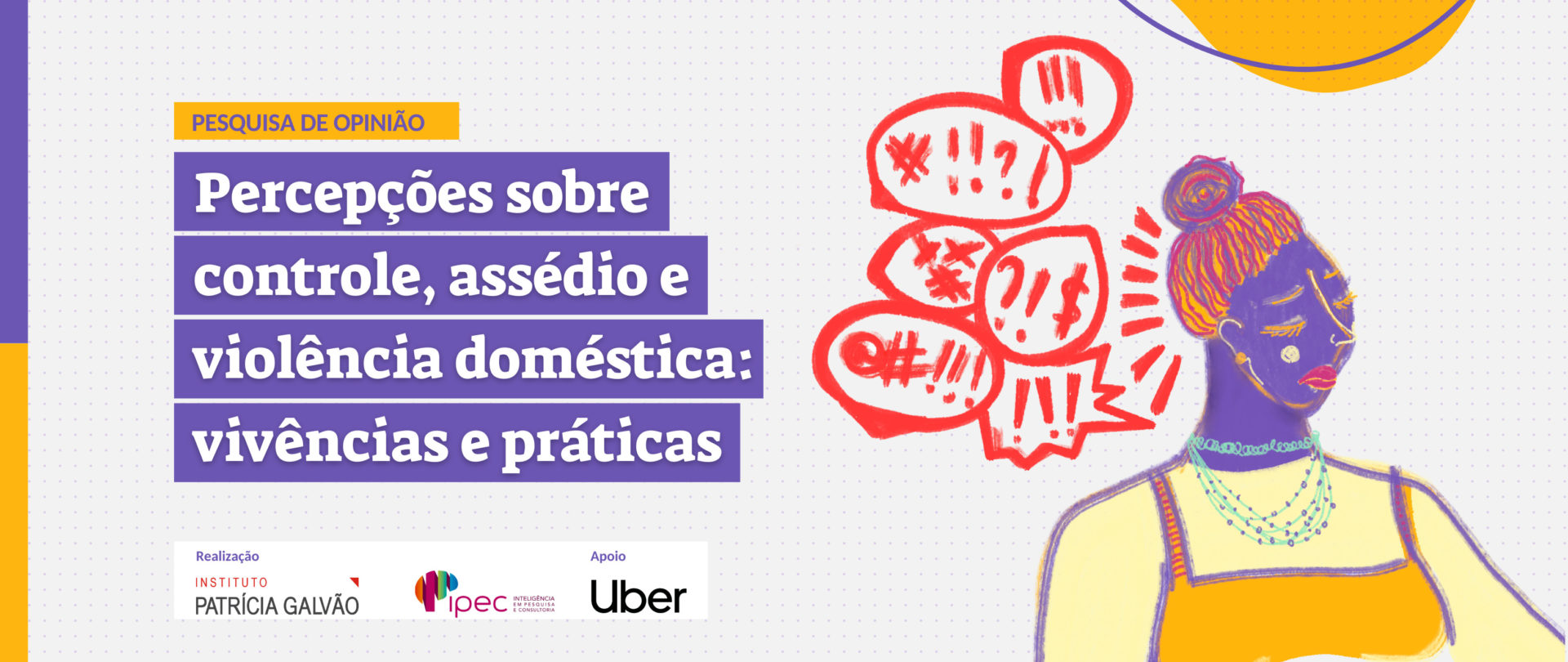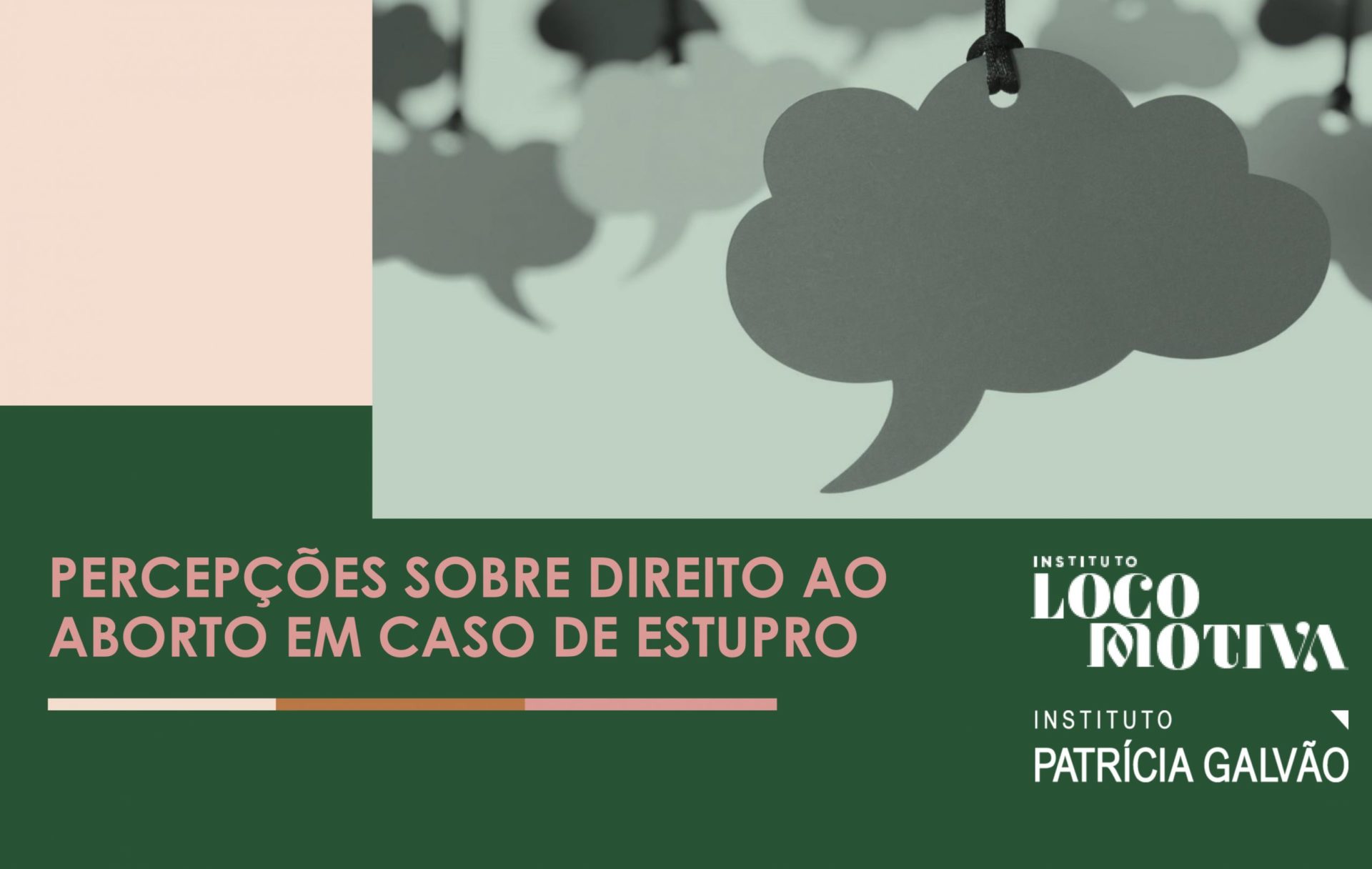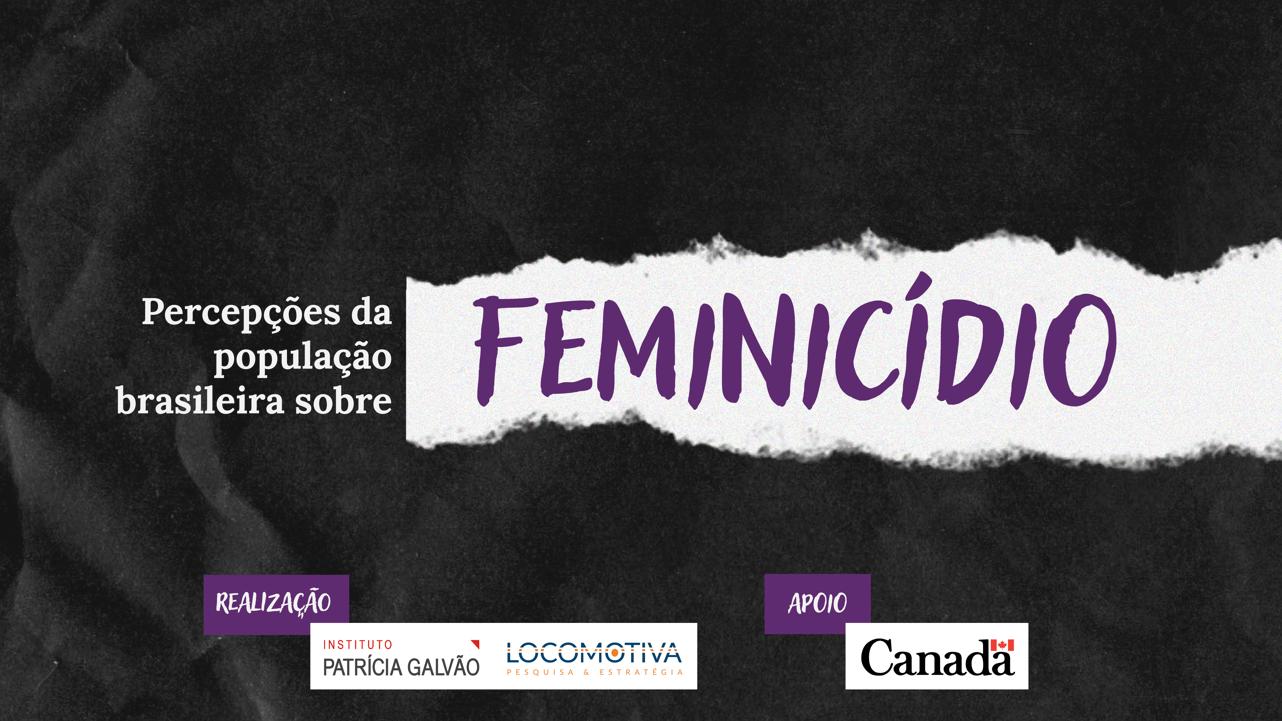- Escolha da próxima ministra não é questão de concessão identitária, mas de coerência institucional
- Cada nomeação comunica valores: manter o desequilíbrio é optar por perpetuar a exclusão
Sempre que surge uma cadeira vazia no Supremo Tribunal Federal, ressurge a mesma pergunta: “será agora a vez de uma mulher?”. A questão, por si só, já carrega um peso revelador. Quando se trata da sucessão masculina, fala-se em mérito, currículo, trajetória. Nunca em “vez”. O mérito dos homens é presumido; o das mulheres, permanentemente colocado sob suspeita, como se precisasse ser reiteradamente provado e justificado. Essa assimetria discursiva reflete a desigualdade estrutural que marca a própria história da mais alta corte do país.
A aposentadoria anunciada do ministro Luís Roberto Barroso, que ele mesmo defendeu fosse sucedido por uma mulher, traz ao centro do debate uma distorção democrática insistentemente naturalizada no Brasil. Hoje, apenas uma mulher ocupa cadeira no STF, em meio a outros dez ministros homens. Em mais de 130 anos de história republicana, foram apenas três mulheres. Até 2000, o tribunal jamais havia tido uma ministra. O atual presidente da República, em todos os seus mandatos, indicou dez ministros ao Supremo Tribunal Federal. Entre eles, apenas uma mulher. Esse dado, longe de uma curiosidade histórica, é evidência de que a Constituição que proclama a igualdade de gênero ainda não se cumpre dentro da instituição encarregada de interpretá-la.
A teoria democrática ensina que a legitimidade de uma corte constitucional depende não apenas de sua competência técnica, mas também de sua capacidade de representar a sociedade em sua pluralidade. Hanna Pitkin, em “The Concept of Representation” (1967), argumenta que a representação política não se esgota em agir em nome do povo; exige também que as instituições espelhem a diversidade social. Um tribunal composto majoritariamente por homens brancos, em um país onde mais da metade da população é negra e feminina, carrega um déficit de legitimidade democrática.
A exclusão histórica das mulheres compromete, inclusive, a própria interpretação constitucional. O direito não é neutro; ele é interpretado por sujeitos situados. Experiências sociais distintas produzem leituras distintas do mundo jurídico. A ausência feminina tende a naturalizar visões masculinas sobre questões que afetam desproporcionalmente as mulheres —da violência de gênero à autonomia reprodutiva.
É fundamental reconhecer, ainda, que esse debate não se esgota no gênero: o Supremo jamais teve uma mulher negra em sua composição, num país em que mulheres negras são a maioria da população feminina. Essa ausência aprofunda as distorções de representatividade e revela o quanto o projeto constitucional brasileiro ainda está por ser realizado em sua plenitude. É impossível ignorar que a intersecção entre gênero e raça continuará sendo uma dívida democrática enquanto não for enfrentada.