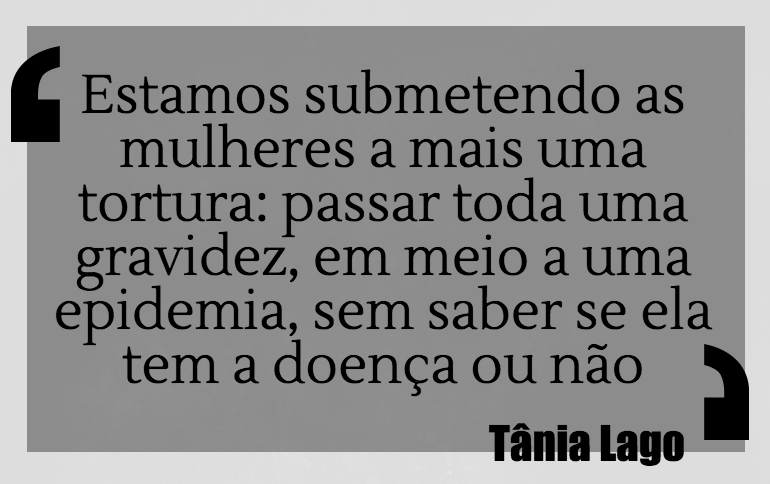(Dimalice Nunes/Agência Patrícia Galvão, 06/06/2016) As estatísticas da epidemia de zika deixam de fora justamente quem deveria ser o centro da resposta à crise de saúde pública: as mulheres grávidas. A não notificação dos casos de mulheres que tiveram sintomas antes ou durante a gestação impede a geração de informação de qualidade e, consequentemente, o controle adequado da epidemia de zika vírus e sua relação com a síndrome congênita.
O vácuo de dados sobre mulheres grávidas infectadas pelo zika torna impossível estabelecer a proporção entre o número total de mulheres contaminadas e bebês nascidos com síndrome congênita, para ficar em um primeiro exemplo. Mas, pior, ignorar as mulheres infectadas significa criar – seja por descaso ou sexismo – uma barreira à construção do conhecimento acerca dos diversos males e má-formações que a infecção por zika na gravidez pode acarretar. Já se sabe que nem todas as crianças com síndrome congênita do zika têm microcefalia (crânio menor, dois desvios padrão abaixo do normal) e especula-se que alguns males não seriam visíveis ou perceptíveis no nascimento.
Epidemia evidencia despreparo e descaso do Estado
A ciência sabe, há anos, que mulheres grávidas são mais vulneráveis a infecções virais – tanto pela quantidade e intensidade dos sintomas da doenças, quanto pelas consequências graves nos fetos. Em ambos os casos, há riscos de morte. Por isso, a médica sanitarista da Secretaria de Saúde de São Paulo e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, Tânia Lago, se espanta ao constatar que essas mulheres não são a prioridade da política pública neste momento de epidemia de zika vírus.
Lago compara a crise de saúde pública atual com o surto de gripe H1N1, em 2009. Apenas em São Paulo, a gripe aumentou em 46% a mortalidade materna, seja pela própria doença, seja pela falta de leitos de UTI para atender outros tipos de complicações em grávidas que não poderiam se misturar com infectados por H1N1.
 “Deveríamos ter aprendido a nos organizar para novas epidemias. Mas a convivência com as epidemias de dengue, zika e chikungunya mostra que, de novo, as mulheres estão ainda mais vulneráveis e nós não estamos prontos para assisti-las adequadamente”, afirma.
“Deveríamos ter aprendido a nos organizar para novas epidemias. Mas a convivência com as epidemias de dengue, zika e chikungunya mostra que, de novo, as mulheres estão ainda mais vulneráveis e nós não estamos prontos para assisti-las adequadamente”, afirma.
Resultado do machismo estrutural, o descaso com as mulheres grávidas em momentos de epidemia não é, no entanto, uma exclusividade brasileira. Em 2005, a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta para o surgimento de novas epidemias em âmbito global e desenvolveu um programa de enfrentamento a elas, mas não deu diretrizes sobre como os países deveriam proceder em relação às grávidas. “Se a autoridade máxima não se lembra de dizer que grávidas são mais vulneráveis quem haverá de lembrar?”, questiona a sanitarista.
No caso da zika, a situação se agrava porque a ciência ainda dá os primeiros passos para entender as implicações de uma doença até então aparentemente banal em mulheres grávidas e em fetos. Pior, não há vacina e tratamento, e as tecnologias disponíveis para diagnóstico ainda têm falhas, fato que vem sendo usado pelos governos para se desobrigar de ofertá-las.
Deixar as mulheres no escuro quanto à contaminação de doença com impacto em sua vida e na do feto não é uma novidade, no entanto. A sanitarista frisa que o sistema de saúde brasileiro sempre foi omisso em informar as mulheres sobre os riscos de infecções virais durante a gestação. Em países desenvolvidos uma série de testes são feitos logo no início da gestação para identificar se a mulher é portadora de algum vírus que possa prejudicá-la ou acarretar sequelas ao feto, como rubéola, citomegalovírus, herpes e sífilis.
No Brasil, porém, essa rotina não foi plenamente implementada no SUS. Em parte isso ocorre pelo emprego do raciocínio de que a mulher, em posse da informação de que está infectada e de que o desenvolvimento do feto pode ser comprometido, não teria nada a fazer uma vez que o aborto é ilegal, uma avaliação equivocada, na avaliação de Lago. “Nós estávamos errados porque, havendo ou não o direito ao aborto legal, as mulheres têm o direito de saber se estão afetadas por uma infecção como essa”, afirma. “Estamos submetendo as mulheres a mais uma tortura, que é passar toda uma gravidez, em meio a uma epidemia, sem saber se ela tem a doença ou não”, ressalta Tânia.
Exames e testes precisam estar disponíveis
A médica sanitarista, que se tornou uma grande defensora da aquisição e disponibilização dos testes/exames, consciente de suas falhas (falsos positivos), acredita na lógica inversa: oferecer a algumas mulheres o alívio. “Se o resultado der negativo, ela não tem zika. E isso é uma felicidade para muitas mulheres. No mínimo isso o SUS tem que fazer”, reforça Tânia Lago.
Em seu embate público para garantir o direito das mulheres à informação – no caso informação de saúde – Tânia lembra: essas tecnologias têm o aval da Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) e podem ser combinadas com um algoritmo para interpretar testes imperfeitos. “A mulher que usa o sistema particular tem acesso ao teste, o que só aumenta o fosso entre mulheres ricas e pobres”, critica. O governo de São Paulo garantiu em diversas ocasiões – incluindo comunicação oficial na TV e rádios – que disponibilizaria os testes na rede pública, o que não vem acontecendo. Questionada, a Secretaria de Saúde de São Paulo não retornou até o fechamento desta reportagem.
Diagnóstico e notificação
Sem exame garantido, o exame clínico é o primeiro passo para que essas mulheres sejam acolhidas pelo sistema de saúde. Em Pernambuco, um dos protocolos criados pelo governo para enfrentamento da zika orienta acompanhamento especial de mulheres que apresentem vermelhidão e erupções cutâneas, além da notificação ao Ministério da Saúde.
A demora para estabelecimento de um protocolo, no entanto – o protocolo foi criado apenas em dezembro, quando o auge da epidemia havia passado -, impediu o estabelecimento da relação entre o número de grávidas infectadas e o de crianças com a síndrome do zika.
“Como vimos as crianças primeiro, nos preocupamos com as crianças e o protocolo foi feito para as crianças. Com o passar do tempo é que vimos que as mães tinham rash [vermelhidão na pele típica da zika] e que a malformação era provocada por uma infecção congênita”, explica Ana van der Linden, neuropediatra e chefe do Serviço de Neurologia Infantil do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, de Recife (PE), uma das responsáveis por disparar o alerta após o aumento dos casos de microcefalia no Brasil.
O argumento de van der Linden, no entanto, não justifica por que somente três meses após a criação do procedimento em Pernambuco – que estava à frente das pesquisas e da resposta governamental – a notificação de grávidas infectadas ou sob suspeita passou a fazer parte do protocolo nacional para enfrentamento da zika.
Outros sinais da síndrome geram novas notificações
Oito meses após os primeiros nascimentos de bebês com a síndrome congênita do zika já se sabe que o vírus pode comprometer o feto em qualquer estágio da gestação. Sabe-se também que nem todas as crianças que nascem com a síndrome apresentam microcefalia, sinal físico mais evidente e ponto de partida para a notificação dos casos. Isso significa que a probabilidade de haver subnotificação é grande. Hoje, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, há 7.723 casos notificados, 1.489 confirmados e 3.162 sob investigação. Os demais foram descartados.
Para Ana van der Linden, o primeiro passo para evitar a subnotificação é deixar de usar o termo microcefalia de forma genérica e tratar sempre como síndrome congênita do zika. “A microcefalia foi o ponto de partida, mas a microcefalia é um sinal, não é a doença. A microcefalia é uma exteriorização de uma doença que fez com que o cérebro não crescesse ou diminuísse. E por isso o crânio não se desenvolve”, explica. Geralmente, quando a mulher grávida é infectada no final da gravidez não há microcefalia, pois o cérebro já está “cheio”, explica Ana. Mas outras lesões podem ocorrer.
Um comprometimento muito comum e não detectável sem a ajuda de exames específicos é a deficiência visual. Como o vírus tem uma predileção por tecidos do sistema nervoso, ele ataca, além do cérebro, estruturas dos olhos. Mas há também bebês que não enxergam mesmo com as estruturas visuais preservadas, casos que a ciência ainda investiga. Há também crianças que não apresentam microcefalia, mesmo com um severo comprometimento cerebral. Isso porque há acúmulo de líquido nos ventrículos cerebrais, o que mantém o volume do cérebro e não compromete o tamanho do crânio. Esse diagnóstico também só pode ser feito com exames mais detalhados. Em todos os casos o mais comum é que haja um grave dano neurológico.
A neuropediatra conta que muitas das novas notificações são de bebês considerados normais no nascimento, mas que retornam ao sistema de saúde por causa de outros sintomas. Já se identificaram, por exemplo, crises epiléticas de difícil controle a partir do quarto mês de vida dessas crianças. As crises, por serem graves, fazem com que esses bebês retrocedam em seu desenvolvimento. A médica ressalta, porém, que independentemente do perímetro cefálico, a maioria das crianças com a síndrome congênita do zika tem outros dois sinais visíveis: uma desproporção entre crânio e face e dobras no couro cabeludo. Crianças com esses sinais devem ser notificadas e encaminhadas ao serviço médico especializado, independentemente do tamanho da cabeça.
Risco persiste
A observação de Ana van der Linden e os números do Ministério da Saúde apontam que o número de novos casos vem caindo. No entanto, é fundamental que o Brasil esteja preparado para novos surtos, que tendem a surgir no verão. “É uma doença do ambiente e de falta de cuidados públicos. De falta de saneamento”, lembra a médica. Nesse aspecto, a prevenção está muito mais nas mãos do poder público do que nas das mulheres, recorrentemente responsabilizadas pela limpeza e eliminação dos focos de mosquito.
Há falhas também na comunicação das formas de contágio. A ciência já comprovou que há alta concentração do vírus no sêmen de homens infectados, o que prova que pode haver transmissão sexual da doença. Portanto, é necessário usar camisinha durante a gestação, informação pouco divulgada nas campanhas de prevenção. O vírus também já foi encontrado na saliva, mas ainda não se sabe se a concentração é suficiente para o contágio pelo beijo, por exemplo.
Apenas em 26 de abril o governo federal divulgou seu primeiro balanço da infecção por zika no Brasil. Em 2016, de 3 de fevereiro até 23 de abril, foram notificados 120.161 casos prováveis de febre pelo vírus Zika no país (taxa de incidência de 58,8 casos/100 mil hab.), distribuídos em 1.605 municípios, dos quais 39.993 foram confirmados.
Por enquanto, as grávidas têm apenas o uso de repelente como método preventivo (fala-se muito no uso de roupas compridas, o que é impraticável em climas quentes como o da região Nordeste, onde se concentram os casos). E, mesmo assim, apenas em 20 de abril foi publicado o Decreto nº 8.716, que determina a compra e distribuição de repelentes para mulheres beneficiárias do Bolsa Família.
Considerando que as mulheres mais vulneráveis são pobres, apenas a distribuição pública do repelente pode garantir o acesso. Suzanne Serruya, diretora da Unidade de Saúde da Mulher e Reprodutiva da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) resume: se a medida existe, mas não é aplicável, ela não existe.