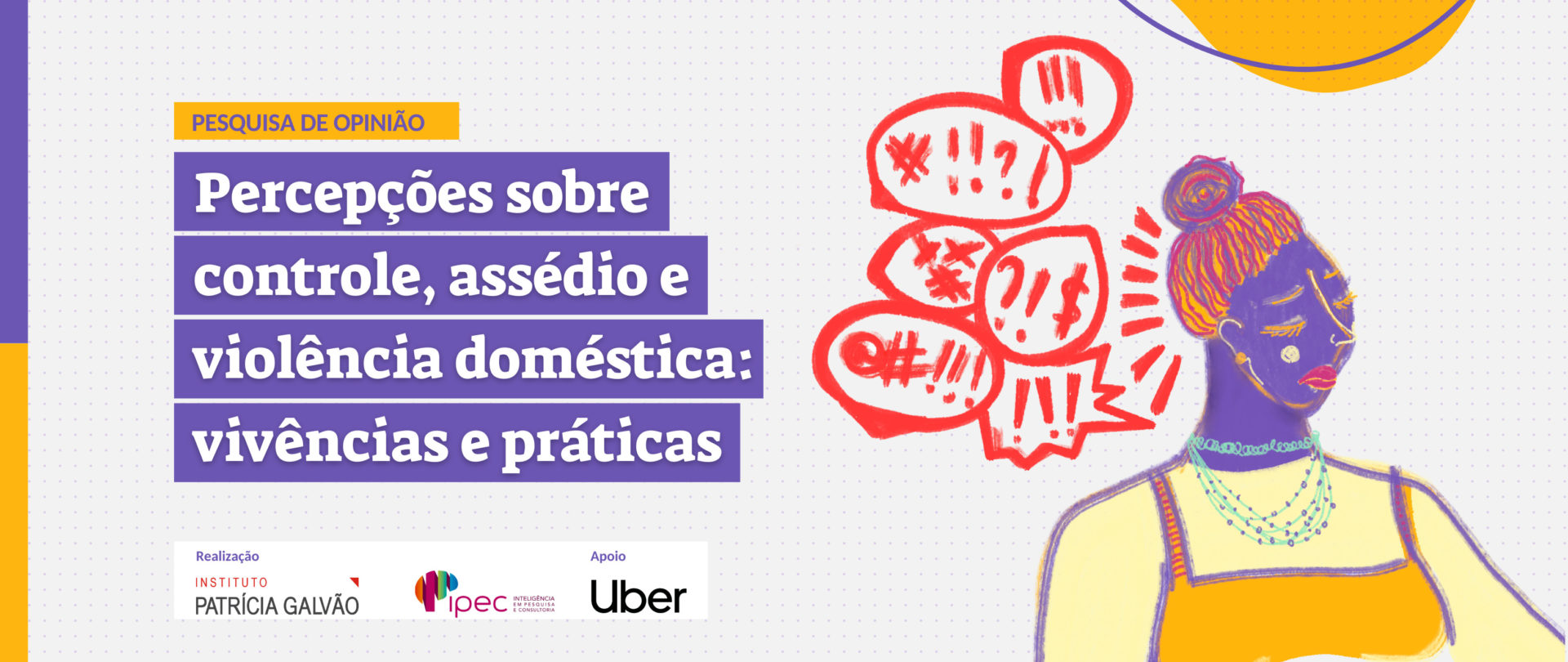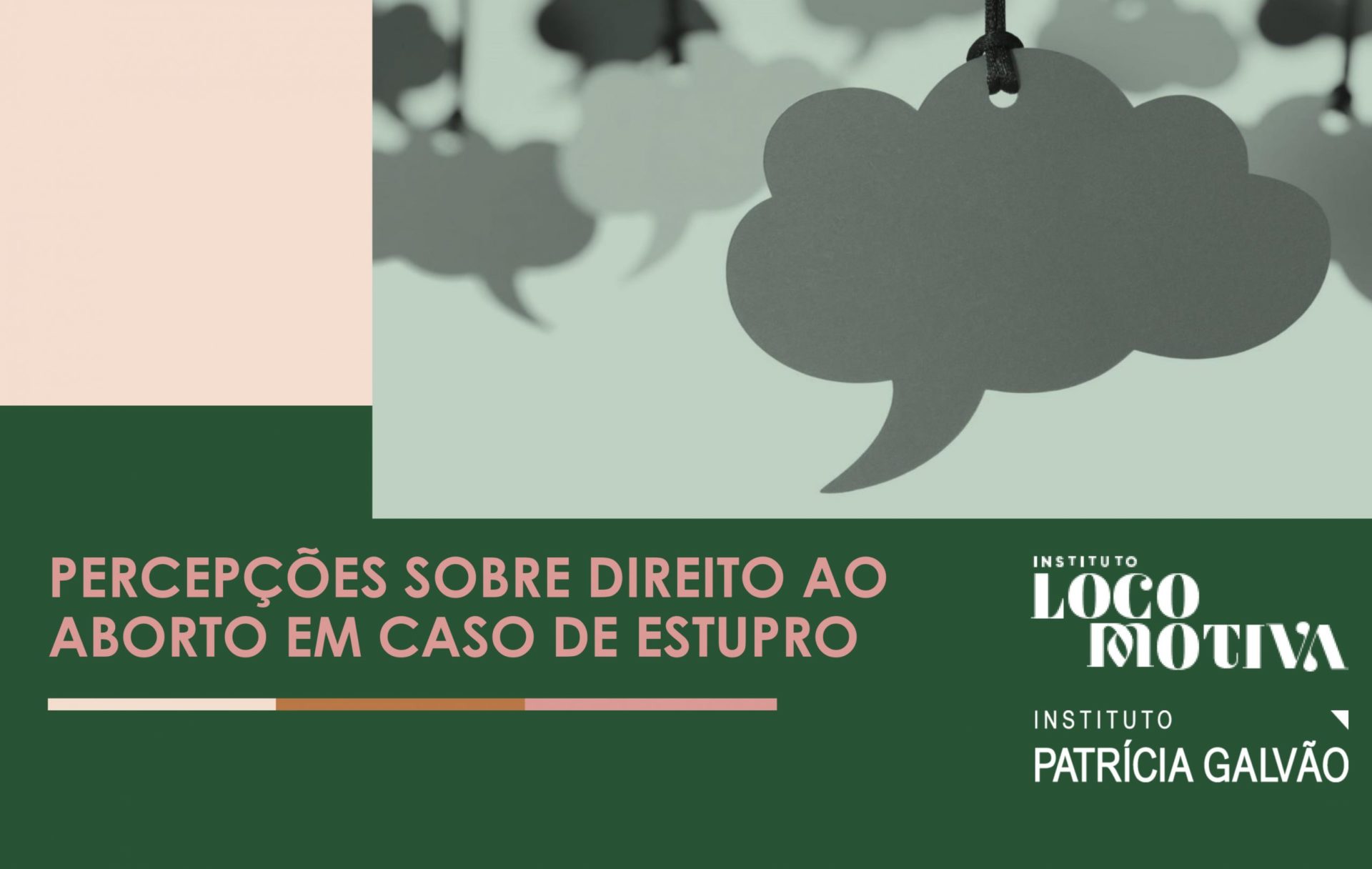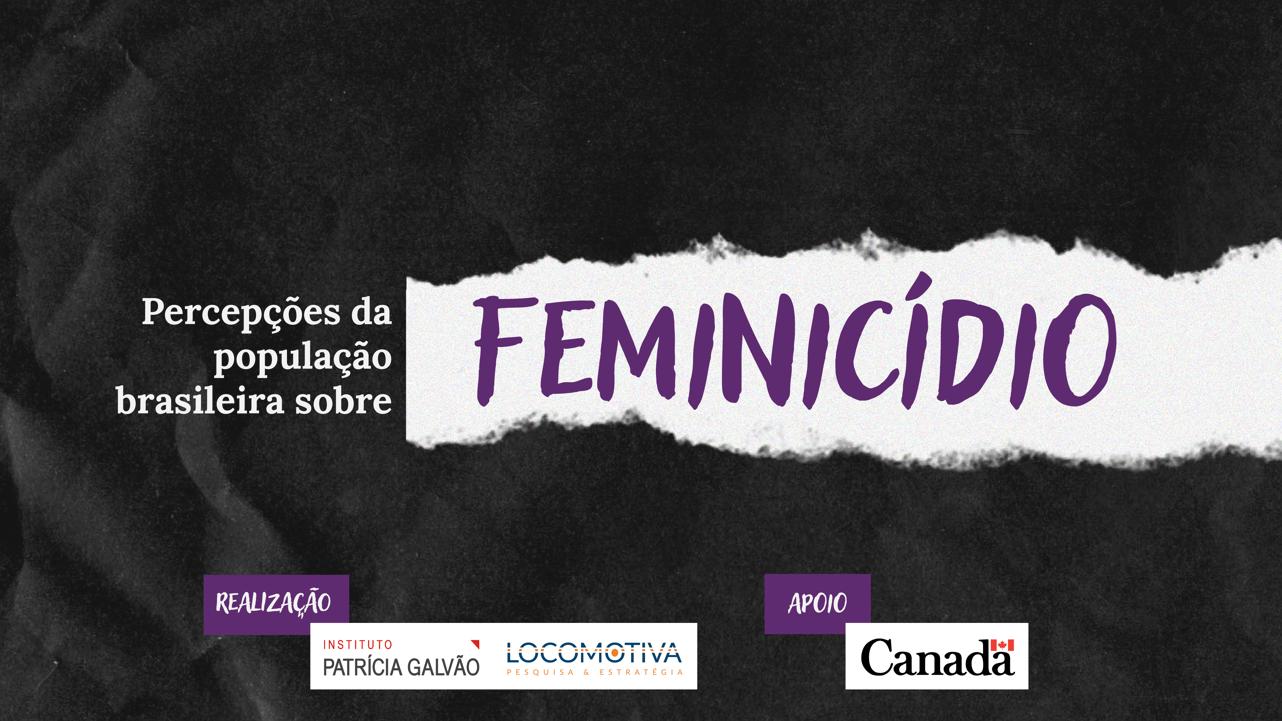Não aceitaremos mais que o tom sirva para nos calar. Nem que a retórica seja usada como escudo para o que é, no fundo, puro exercício de poder
Este artigo é a tréplica ao artigo Uma justiça em que os réus escolhem os (seus) juízes? (Estadão, 29/6, A4), que por sua vez é a réplica ao artigo O risco da Justiça que escolhe seus réus (Estadão, 27/6, A6), que defende que o ministro Alexandre de Moraes deveria ser considerado suspeito no julgamento da tentativa de golpe de Estado.
Mulheres que escrevem sobre política, Direito e poder estão acostumadas com o “tom”. Aquele tom. O que desautoriza sem dizer. O que encobre a condescendência com erudição. O que não apenas discorda, mas diminui. Um tom que se repete, quase sempre, quando o alvo da crítica é uma mulher.
Na semana passada, um artigo publicado neste jornal questionou a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes na condução da chamada “ação penal do golpe”. A crítica, feita por uma advogada – experiente criminalista –, gerou resposta assinada por dois homens – ambos também experientes criminalistas – publicada no Estadão em 29 de junho passado. A divergência era esperada. Bem-vinda, até. O problema não foi o desacordo, mas a forma.
A resposta não se limita à crítica jurídica. Carrega um tom arrogante, professoral, que atribui ao texto original não apenas erro de análise, mas uma espécie de ingenuidade política e falha de compreensão estrutural. A crítica desloca-se da tese para desqualificar a autora. É como se dissesse: “Você não entendeu”. Uma forma sutil – porém reiterada – de deslegitimação.
Mas não é só o tom que incomoda. É também a fragilidade dos argumentos. A tese repetida no título – “réu não escolhe juiz” – em nada infirma a preocupação central do artigo original: a ruptura da imparcialidade objetiva quando o juiz, que figura como vítima no processo, acumula também a função de julgador.
É possível, com legitimidade, sustentar que os fatos narrados não são suficientes para caracterizar a suspeição. Esse debate é válido. Mas não é isso que a resposta oferece. O texto opta por caricaturar o argumento da autora, evitando o enfrentamento direto da tese e apelando para analogias precárias – como a menção a advogados do PCC ou a filme em que o presidente dos EUA é flagrado com uma pessoa menor de idade no Salão Oval. A comparação é retoricamente apelativa, mas juridicamente inócua. A ironia esconde a ausência de densidade.
O texto de resposta tampouco enfrenta os elementos centrais da argumentação original. Não discute, por exemplo, a distinção entre atos anteriores e posteriores à fixação do juízo natural; tampouco enfrenta a diferença relevante entre a condição de vítima direta – afetada pessoalmente pelos atos investigados – e a de vítima institucional. Não há qualquer análise sobre os contornos objetivos da atuação do ministro que, na visão da autora, extrapolaria a posição de julgador imparcial. Todos esses aspectos mereceriam debate. Mas foram ignorados em favor de uma tentativa de desqualificação. A ausência de densidade é compensada por adjetivos. E o debate, que poderia ser rico, resta empobrecido por escolha.
O debate é justamente sobre o modelo de Justiça, sobre o juiz assumir o papel central na investigação. Sobre o juiz ser parte. Não se lê palavra sobre isso no texto dos autores. O modelo acusatório que, depois de tanta reflexão, foi afirmado pelo Legislativo brasileiro em processo legítimo e democrático é absolutamente desconstruído para que os fins justifiquem os meios. Mas, sobre isso, nada se lê no artigo referido. A retórica de desqualificação da autora basta para infirmar a validade dos seus argumentos. Até a população brasileira é chamada, no texto, como ente coletivo, para validar frases recheadas de agressividade e ironia, mas sem qualquer conteúdo técnico.
Talvez seja justamente essa falta de tese que leve os autores a recorrer ao lugar de autoridade “natural” que presumem ocupar – como se bastasse invocar a toga simbólica da suposta superioridade intelectual para invalidar, por contraste, o argumento de quem ousa pensar diferente. E ousa, sobretudo, na condição feminina.
Não se trata de um episódio isolado. O que vimos – e tantas vezes vivemos – é a repetição de um padrão: quando uma mulher ocupa o espaço da opinião jurídica, especialmente em temas sensíveis ou politicamente tensionados, não basta discordar dela. É preciso desautorizá-la. Corrigi-la. Colocá-la em seu lugar.